Aqui. Neste lugar.
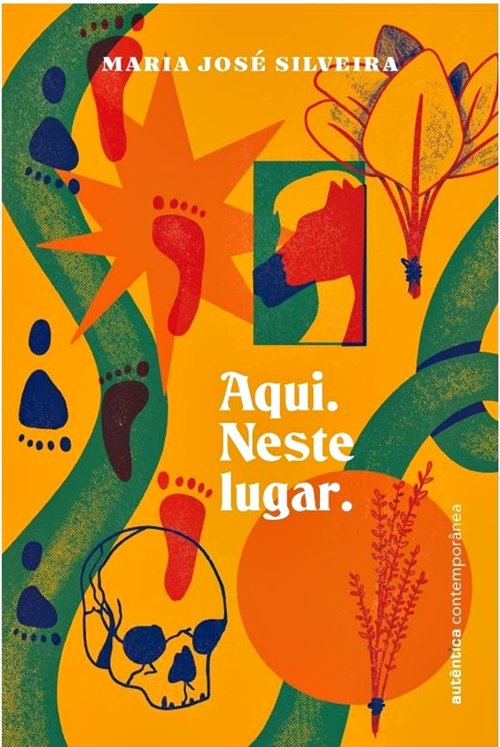

Trecho de AQUI. NESTE LUGAR.
Editora Autêntica
(…)
A terra fosca é de um feio matiz marrom que vai escurecendo à medida em que nela eles botam os pés. Não há vegetação crescendo naquele solo de terra pesada, que chupa o que se acrescenta ao seu peso e por onde a vanguarda do exército do El Dorado avança com dificuldades. Os pés se afundam, e é preciso força para levantá-los. Por que foram passar por ali? Os guias e batedores estão bem à frente e parecem leves, como se o maldito pantanal tivesse umedecido depois da passagem deles.
O Senhor e os comandantes também estão à frente, em uma elevação à beira da mata que desponta atrás e, se encontraram alguma dificuldade, deve ter sido bem menor, porque parecem olhar atônitos para os homens que vêm se atolando pela então terra firme que haviam acabado de percorrer.
Algumas fileiras compactas aos poucos conseguiram chegar à mata, por onde seguem em frente, e por sorte não se dão conta do que poderia ser a origem do ronco bizarro que acabaram de escutar. Continuam a caminhar pela mata, que lhes parece um alívio depois do campo transformado em pantanal. Mas tal sorte não têm o Senhor e seus comandantes, do ponto elevado de observação em que se colocaram. Escutam perfeitamente o rugido estrondoso emergindo do fundo da própria terra, e a veem se abrir ao meio, tragando as fileiras de homens ainda em travessia e transformando todo o extenso pantanal em uma única e profunda cratera. Ouviram, com estupor, os gritos berros urros de tantos homens se juntarem ao clamor da erosão, até que a terra de novo se acomoda, deixando um precipício onde antes era um descampado entre duas matas. Veem, paralisados, quase metade do exército sendo engolido e soterrado. E ali ficam prostrados por longo tempo, na tentativa de entender o que tinham visto e assimilar a redução catastrófica de um exército até então numericamente invencível.
– Êita, danado! – Curuiz! – Agora é que eu quero ver! O grupo dos homens e mulheres do Couro também tinha visto o acontecido do morrete onde estava, sem ser visto. Comentam, excitados, como em geral ficam os homens frente a uma catástrofe com a qual não têm nada a ver.
– Vixe, que esse povo tá é brincando com fogo!
– Tão brincando é com a terra, que, pelo visto, nem num achou graça na brincadeira.
– Melhor a gente se escafeder daqui, que essa briga não é nossa.
– Bem que podia ser, num podia? Que eu tô até tremelicando pra entrar nessa dança.
– Tenha paciência que tu ainda vai usar muito seu facão nessa vida. O Primeiro Povo num precisa da gente. Senão vira até covardia.
– Destá, jacaré… Sua lagoa há de secar – um deles diz, amuado, querendo briga.
– Mas reverdece. Com o tempo, o campo seco reverdece. Se aquiete.
E com seus apetrechos todos, eles se mandam dali.
Na aldeia do Primeiro Povo, Mais Velho e Pisadeira foram os únicos que souberam que a terra havia se manifestado. Souberam na hora. Não estavam juntos, mas era como se tivessem olhado um para o outro e entendido. Pisadeira catava, ela mesma, presas de jararaca verde, ferrões de escorpiões amarelos com as vesículas da peçonha e rabos de tatu branco para suas mezinhas. Tava irritada com Naíma, que trouxera tudo errado da última vez, deixando seu estoque baixo. Abaixara para examinar um monte de folhas secas e ver o que tinha embaixo quando seus pés estremeceram de leve, os bichos da terra úmida se alvoroçaram ao seu redor, os troncos das árvores como que acomodaram suas raízes e os pássaros alçaram um voo coletivo.
Pisadeira sorriu achando bom.
Mais Velho, apoiado em seu cajado, estava no cemitério, em seu momento diário de comunhão com os mortos. Estava sozinho, mas teria gostado de ter Li com ele para lhe mostrar o levíssimo tremor da terra que sentiu ali, os calangos pintados correndo por entre as pedras, o tremular das folhas, a revoada das cotovias e seu arabesco rasgando as nuvens. Sinais de regozijo, do aproximar da paz. Ele vinha se sentindo absorto esses dias; pensamentos esparsos, difusos, intuindo aproximar seu dia de se deitar na relva entre as tumbas dos ancestrais. Talvez Li não estivesse completamente pronta para substituí-lo, mas não era motivo de preocupação, a própria vida se encarregaria de lhe ensinar o que faltava. Ela, que também andava absorta, ele observara, mas por motivos diametralmente opostos. Ele conhecera esses motivos em seu tempo de juventude. Também sentira a ardência do sexo. Também se questionara muitas vezes sobre a dureza do caminho pelo qual seu dom o guiaria, mas escolhera sem vacilações o mundo obscuramente luminoso da magia. Li também o escolheria.
Terminada essa estranha guerra, ele veria chegar de bom grado sua hora. Nada a temer, nada com que se preocupar.
O mundo é bom.
Outro alvoroço, esse em comparação bem pequenino, estava acontecendo no istmo do Povo da Chuva. Guardas negros de cabelos brancos trazem dois adolescentes foragidos, liderados por Ganga-í. Não é que o menino tinha fugido mesmo? Ele e seu grande amigo Zunun. A chuva está rala e a aldeia se reúne na praça. Era a primeira vez que meninos, ainda mal chegados à adolescência como aqueles dois, haviam tentado a fuga. A aldeia está inquieta, temerosa, temendo por eles e suas famílias. Magros, com a voz não confiável dos púberes, olhos nada subservientes, nenhum abaixa a cabeça ao fitar o rei. Ganga-í ergue a voz: – TIRANO! Não queremos viver aqui. Queremos conhecer a Sol, que eles chamam de Véi, e a terra que não tem males.
O Rei Negro, do alto de sua imponência, se assusta. Tirano?! É isso que se tornara? Ele, que tanto ama seu povo e sua terra, e só quer o bem de todos? E tal como a fresta luminosa que se espalha depois do desassossego, ele parece compreender tudo de uma vez. A nova esperança que viera com a construção do barco tornara-o capaz de voltar a entender o que a extrema angústia o fizera esquecer: que a liberdade é gêmea da vida; que sem ela homem nenhum deseja viver.
Olha à sua volta e nada vê do respeito amoroso com que o olhavam antes. O que vê são olhos temerosos, encolhidos, que não ousam mais fitá-lo; vê os súditos de sua idade, cabeças abaixadas, murchos não pelos borrifos inclementes da chuva, mas pelo vazio de desejo. Não porque tivessem desejos frustrados, é pior do que isso: é que ele há muito vem sufocando o desejo de seu povo e, agora, aterrado, percebe que seus companheiros de antes já não têm desejos. Mais do que por ter perdido a terra de origem, seu povo se tornara assim tão infeliz por ter perdido o direito de achar outro caminho. Ele agora percebe claramente isso. Quando, por fim, ergue a mão e fala, seu discurso não é de punição. É curto, conciso, e declara o que seu povo há muito não esperava escutar:
– Ouçam-me com atenção, pois acabo de compreender a grande verdade gritada por esse jovem, e rogo a todos o perdão. Não obrigarei ninguém a permanecer aqui, se não desejam ficar. Tampouco tentar a travessia no barco, se não desejam tentar. A data da nossa travessia se aproxima, e só irá quem desejar ir. Os que desejarem ficar ou tentar seu próprio rumo, eu os deixo com minha permissão e meu desejo de bons augúrios.
Vira-se e se dirige a passos lentos para o pequeno estaleiro onde o barco está sendo construído. Mas refaz o rumo no caminho: vai até seu penhasco. É preciso aproveitar aquele momento de iluminação e aprofundar seu pensamento, pois, admirado, o que sente é o alívio do peso que o fechara em sua dura obstinação. Por demasiado tempo ele ficara, ele também, prisioneiro da obsessiva prisão que criara para todos. Foi preciso que os jovens de seu povo lhe mostrassem seu erro. Libertara-os, e também libertara a si mesmo.

Maria José Silveira é escritora, editora e tradutora. Seu primeiro romance, A mãe da mãe de sua mãe e suas filhas (Editora Globo), recebeu o Prêmio Revelação da APCA 2002 e já ganhou edições nos Estados Unidos, Itália e França. Desde então, publicou oito romances. Em 2021, com Maria Altamira (Instante), foi finalista dos prêmios Oceanos e Jabuti. É também autora de duas peças de teatro já encenadas. Mantém um blog e escreve crônicas quinzenais para um jornal. Formada em Comunicação e em Antropologia, tem mestrado em Ciências Políticas. É goiana e mora há vários anos em São Paulo.





































Comente o texto