Polititica
Em 15 de junho, das 18 às 21 horas, na Casa das Rosas – cidade de São Paulo, Av. Paulista 37 –, é lançado o livro de poemas “Polititica”, do Glauco Mattoso, editora Córrego. A oportinidade é ótima para, nesse Brasil em ritmo de política, discutir e a presença de Glauco Mattoso.
No Brasil, muitas vezes, o discurso político é tão persistente, que ele se confunde com os demais discursos sociais; tudo aqui tende a ser política para, depois, ser alguma outra coisa. No limite dessas confusões, para muitos brasileiros, a única arte que existe é a arte engajada; arte que não tematiza causas ou questões políticas não mereceria muita consideração. Trata-se de algo bastante antigo, faz tempo que percebo esses procedimentos políticos; nasci em 1964, posso, pelo menos a partir daquele ano, procurar por algumas explicações para isso.
Nascer por volta de 1964 significa, para quem viveu no Brasil, ser educado, tanto na família quanto na escola, sob os valores espúrios da ditadura militar instaurada no país; significa cantar regularmente o Hino Nacional e ser exposto às imagens de Jesus Cristo e da Bandeira Nacional em toda sala de aula; também significa terminar o ensino médio durante a Campanha das Diretas, passar pelas eras Collor, Fernando Henrique Cardoso e os governos do PT; por fim, depois de quase meio século, assistir ao novo golpe de Estado, em 2016, com a derrubada da presidente petista Dilma Rousseff. Em meio a tanto terror – e isso precisa ser problematizado com bastante cuidado –, nascer naqueles tempos foi crescer ouvindo, nas rádios e nas vitrolas, a música popular brasileira, seja em sua versão fascista e extremamente reacionária, isto é, as canções de Roberto Carlos, seja em suas versões menos obscurantistas, como são as canções de Chico Buarque e as expressões tropicalistas da MPB, cujos melhores exemplos seriam Os Doces Bárbaros ou cada um deles separadamente.
Para quem nasceu no século XXI, tudo aquilo é passado – inclusive Chico e Caetano –, mas para pessoas da minha idade, a ditadura e sua época ainda são reais, a maioria das personagens daqueles tempos ainda estão vivas – Lula, Fernando Henrique, Collor de Mello, Paulo Maluf –. Para minha geração, a MPB foi o mesmo que resistência política contra o fascismo; nos tempos de hoje – o primeiro quarto do século XXI –, resta verificar em que medidas tudo aquilo se dava ou ainda se dá.
Para mim, e creio que para muitos, além da suposta resistência político-social da MPB, ela resistia aos imperialismos linguísticos, pois se expressava nas muitas variantes brasileiras da Língua Portuguesa. Por isso mesmo, quando a ouvia nas rádios e TVs, tendia a separá-la das canções em línguas estrangeiras, principalmente o Inglês – na época, a língua dos imperialistas –. Hoje, considerando antes os valores musicais que os valores políticos, é difícil não perceber o quanto MPB e música pop estavam bastante próximas.
Não se pretende aqui definir com precisão o que vem a ser canção pop; ela pode ser alcançada, contudo, por meio de suas propriedades midiáticas. Independentemente das etimologias da palavra “pop” e de suas designações, que se estendem de adjetivo geral à definição específica de movimento artístico, a música pop é a música ouvida pela maioria das pessoas, justamente porque ela toca nas rádios, nas televisões, na internet, no cinema. Se sua língua predominante é o Inglês, isso pode ser explicado por motivos históricos referentes às grandes navegações ou às origens da burguesia e do imperialismo econômico; mesmo assim, no mundo contemporâneo, ao que tudo indica, cada país desenvolveu sua versão da música pop para a língua falada no lugar. Exceto as estações de rádio e televisão mantidas pelo Estado, em que geralmente se escuta jazz e o repertório erudito, nas demais mídias privadas ouve-se apenas um tipo de música: a música pop.
Por esses motivos – todos eles organizados em torno de razões mercadológicas, ditadas pela indústria cultural – a canção pop termina sendo bastante padronizada. Para verificar isso, basta observar quatro características desse tipo de canção: (1) a insistência em temas restritos às dores do amor ou às celebrações hedonistas; (2) restrições à utilização de instrumentos musicais, empobrecendo a utilização dos timbres – cabe lembrar que a maioria desses timbres também é ditada pela indústria, dessa vez a indústria dos instrumentos musicais, em que predominam guitarras, baixos, teclados elétricos e bateria –; (3) a restrição dos instrumentos promove, por consequência, a padronização do timbre em nível mundial; (4) em termos musicais, utiliza-se apenas o sistema tonal em seus paradigmas mais simples e elementares, isso para não mencionar a insistência rítmica em compassos 4/4. Ora, todas essas características estão na MPB.
Mais de 30 anos depois do final da Ditadura Militar, não fica difícil perceber o quanto os temas da MPB, assim como todas as suas demais características de música pop, estavam mais de acordo com a indústria cultural do que pareciam estar. Posso citar dois exemplos disso: (1) o rock cristão de Roberto Carlos e da Jovem Guarda, com todo seu moralismo católico e sua hipocrisia patriarcal; (2) a banalização do Tropicalismo feita pelos Doces Bárbaros Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia.
Não quero me estender falando de fascistas, mas Roberto Carlos é o paradigma do rato de ditadura. Seu repertório está repleto de odes a Jesus Cristo, mas não do ponto de vista hippie – o Jesus Hippie do amor ao próximo –, trata-se do Jesus dos censores intolerantes. Roberto Carlos apoiou a proibição de filmes no Brasil, como “Je vous salut, Marie”, de Jean-Luc Godard; nunca se importou, porém, em ser crooner de Roberto Marinho todo final de ano, celebrando, literalmente, a “caretice”, que o Rei da Canção sempre ostentou com orgulho.
Roberto, todavia, nunca se propôs a fazer canções de protesto; seu tema predileto é o marido-amante, sempre disposto a se aventurar em motéis e a voltar para casa, ao encontro da esposa e do cachorro a lhe sorrir latindo. O Brasa, entretanto, começou fazendo rock’n’roll – o rock’n’roll influenciado por Elvis Presley, outro garoto propaganda – e é justamente nesse ponto que os pactos da MPB com a indústria cultural no Brasil assomam com clareza: o rock do Rei Roberto Carlos é um rock sem sexo, sem drogas, sem Satã… sem solos de guitarra e de bateria, sem cantores… enfim, sem rock. Por isso mesmo, depois da Jovem Guarda, mais parecida a uma facção da Associação Católica da Mocidade, Roberto enfatizou o que sempre fez: música sertaneja, conhecida na época como música romântica.
Essa banalização do rock já fora feita por Celly e Tony Campello, e continuou com Rita Lee, Raul Seixas, Barão Vermelho, Legião Urbana, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens e muitos outros. Tal banalização do rock – que no Brasil se confunde com sua assimilação aos valores da família católica –, ocorre, em graus diferentes, com outras músicas, em suas origens bem mais agressivas: reggae sem maconha; rock progressivo sem improviso; punk sem proletariado… militância política sem Marx, Engels, Rosa de Luxemburgo ou Wilhelm Reich.
Com algumas exceções – raras e temporárias –, banalizar as músicas do mundo, em função dos paradigmas simples da indústria cultural, foi levado adiante pelo Tropicalismo na MPB. Para desenvolver isso, mesmo que em linhas gerais, vale a pena separar o Tropicalismo da MPB de outros Tropicalismos, assim como vale a pena separar o Tropicalismo das parcerias com Torquato Neto, daquele com Carla Perez.
Em sua origem, o Tropicalismo nasce antes nas artes plásticas do que na música; o termo remonta a artistas como Hélio Oiticica. Conceber o mar não como desafio a ser superado – cruzar o Estreito de Gibraltar, dobrar o Cabo das Tormentas, … –, mas como fonte de prazer, deveria – e esse seria o projeto inicial – suscitar imaginários mais complexos do que simplesmente ficar na praia, bebendo “licor de jenipapo, de papo pro ar”. Esse falso hedonismo levou, na música, a diálogos arriscados com a indústria cultural, gerando o reggae, o rock e o samba, próprios do Tropicalismo na MPB, descaracterizados de seus componentes originais mais agressivos. Sem detalhar esse questionamento, basta comparar as fases de Gal Costa cantando descalça com suas parcerias com a banda Roupa Nova; outros exemplos são fáceis de encontrar em Gil e Caetano; já em Maria Bethânia, isso é evidente.
Também fez parte das propostas do movimento romper com as fronteiras entre os valores poéticos acadêmicos e os populares, inclusive as fronteiras entre as músicas eruditas e a MPB. É claro que isso não aconteceu, em parte, porque os cancionistas da MPB nunca tiveram formação musical para levar adiante essa empreitada, que não é fácil. Quando Caetano tenta musicar poemas concretos, o resultado é lastimável, basta comparar sua versão dada ao poema Pulsar, de Augusto de Campos, com a versão de Luciano Berio – esse sim, músico de verdade –, para o texto de Markus Kutter, em sua “Sequenza III”, para voz feminina. Aliás, esquecendo-se de dialogar com a música erudita, o Tropicalismo de Caetano dialoga intensamente com a música brega de Peninha; nunca vi fotografias suas com Flo Menezes, mas há várias dele com Carla Perez, a moça do “Segura o Tchan”.
Em termos de banalização da música, não causa surpresa, portanto, assistir a Roberto e Caetano juntos, cantando Tom Jobim – Tom que, a seu modo, esvaziou, em sua bossa, o jazz de seu componente mais sofisticado: o improviso –; afinal, todos são adeptos do “doce bárbaro” Jesus.
Fora a suposta resistência linguística e cultural – cantar nas variantes brasileiras do Português –, nunca foi projeto da Bossa Nova, da Jovem Guarda, nem dos Doces Bárbaros fazer canções engajadas; isso coube a Chico Buarque, Milton Nascimento, Gonzaguinha, Ivan Lins. A mesma banalização, antes feita no jazz, no reggae, no rock e no samba, agora é feita na resistência política, esvaziando-a de seus conteúdos mais revolucionários: a luta de classes, a revolução proletária, o fim da burguesia, isto é, a revolução sem Marx, Trotsky, Camilo Cienfuegos… sem Lamarca e sem Marighella.
* * *
E a literatura? Talvez por não dialogar ainda tão intensamente com a indústria cultural, pelo menos naquela época, parece que a literatura, as artes plásticas, o cinema e o teatro foram poupados das banalizações sofridas pela MPB. Não sou especialista na obra de Caetano Veloso, pelo que pude ouvir dele, quase não há menções explícitas a poetas; em sua canção Língua, porém, ele menciona Glauco Mattoso ao lado de Arrigo Barnabé. Infelizmente, mais duas banalizações. Ao que tudo indica, as referências de Caetano tanto à música de Arrigo quanto à poesia de Glauco Mattoso não passam das citações de seus nomes; em suas melodias, Caetano não se aproxima da vanguarda, mesmo que bastante tímida, de Arrigo Barnabé, nem se aproxima, em suas letras, da poesia sofisticada e altamente contestadora de Glauco Mattoso e suas militâncias queer, sadomasoquista, podólatra, entre tantas outras.
Retomando a literatura, meu primeiro contato com a poesia propriamente dita, e não aquela das letras das canções, foi com a poesia de Ferreira Gullar. Tinha eu por volta de dezesseis anos de idade; conheci Gullar por meio de um músico, o compositor Egberto Gismonti. Não me refiro, evidentemente, àquela poesia ensinada na escola; refiro-me à poesia que busquei por iniciativa própria.
Quem gosta da música brasileira, mas não aprecia a MPB, principalmente as letras das canções, tende a se refugiar na música instrumental. Com isso, recusa-se também os valores da indústria cultural, uma vez que a música instrumental no Brasil sempre esteve à margem da música dos cancionistas. Por volta de 1979, tive notícias da gravação de um álbum duplo – na época, eram discos de vinil –, com poemas de Ferreira Gullar lidos por ele mesmo e acompanhado por Egberto Gismonti solo ou com o grupo formado por Zeca Assunção (baixo), Realcino Lima Filho (bateria) e Mauro Senise (sax e flautas). Empolgado inicialmente com a música, terminei prestando atenção nos poemas, todos diferentes daqueles estudados no colégio, principalmente no tratamento dado aos temas políticos.
Naquele tempo, meu interesse não se limitou aos poemas gravados nos discos; li de Gullar “Toda poesia / 1950-1980”, editada em 1981 pela Civilização Brasileira. De sua obra completa, sempre me comoveu o poema “Dentro da noite veloz”, em que são narradas a captura e a morte do revolucionário Ernesto Che Guevara, na Bolívia, pelos fascistas. No IV canto do longo poema, entre as narrações da guerrilha, o poeta insere estes versos:
.
…………..No alto,
grandes massas de nuvens se deslocam lentamente
sobrevoando países
em direção ao Pacífico, de cabeleira azul.
Uma greve em Santiago. Chove
na Jamaica. Em Buenos Aires há sol
nas alamedas arborizadas, um general maquina um golpe.
Uma família festeja bodas de prata num trem que se aproxima
de Montevidéu. À beira da estrada
muge um boi da Swift. A Bolsa
no Rio fecha em alta
ou baixa
.
Em linhas gerais, o poeta, assumindo discurso próximo do jornalismo, narra a previsão do tempo insinuando, concisa e sutilmente, a luta de classes: a greve contrasta com as maquinações dos golpistas; enquanto festejam-se bodas, são descritas multinacionais; as figuras do imperialismo coincidem com as figuras da burguesia internacional. O assassinato de Che Guevara, por isso mesmo, está inserido na luta contra o mercado capitalista. A poesia de Gullar – pelo menos essa – não é um panfleto barato, formado apenas por palavras de ordem, de pouco sentido, mas é diagnóstico sociopolítico certeiro e esclarecedor.
Enquanto isso, na prosa, lembro-me de ler, na mesma época, “Não verás país nenhum” (1981), de Ignácio de Loyola Brandão, e a trilogia “O que isso é, companheiro?” (1979), “O crepúsculo do macho” (1980) e “Entradas e bandeiras” (1981), de Fernando Gabeira. Para quem não se lembra, o primeiro livro é uma ficção científica; imagina-se, num futuro próximo, o Brasil legislado por políticos corruptos e autoritários, repleto de injustiças sociais e, como agravante, em meio a desastres ecológicos, entre eles, o desmatamento total da Floresta Amazônica. Na trilogia de Gabeira, por sua vez, são narradas, respectivamente, as fases de sua militância política no Brasil, que culminam no exílio, a vida como exilado, o retorno na época da anistia. O livro de Loyola foi para mim surpreendente, pois não estava acostumado a ver o Brasil retratado em ficções científicas distópicas. Os relatos de Gabeira, repletos de reflexões, apresentaram-me, pela primeira vez, críticas contrárias aos maniqueísmos políticos juvenis, com os quais eu estava acostumado; Gabeira, já naquela época, discutia cultura queer, homofobia, legalização da maconha, ecologia, o machismo latino-americano e suas consequências letais para as mulheres.
As menções a essas quatro obras são proveitosas, pois permitem traçar algumas relações, bastante estreitas naquele momento, entre literatura em prosa e jornalismo político. A bem da verdade, tais relações sempre foram estreitas no Brasil desde o Romantismo; Manuel Antonio de Almeida, José de Alencar e Machado de Assis escreveram para jornal; “Os sertões”, de Euclides da Cunha, é uma reportagem. Loyola Brandão, autor de contos e romances, também escreveu relatos jornalísticos como “Cuba de Fidel” (1978) e “O verde violentou o muro” (1984); Gabeira, predominantemente jornalista, arriscou romancear suas experiências de viagem em “Hóspede da utopia” (1981).
Durante a Ditadura de 1964, creio eu, esses diálogos com o discurso jornalístico podem ser entendidos de, pelo menos, dois pontos de vista: o da identificação entre escritores e jornalistas enquanto vítimas da censura e das perseguições políticas; o do realismo político, em literatura, indo ao encontro dos compromissos com os fatos sociais, próprios do jornalismo. Retomando Loyola e Gabeira, abandonei o segundo depois de ler “Sinais de vida no planeta Minas” (1982), livro de denúncias contra o machismo brasileiro, mas me interessei pela prosa de Loyola, lendo, logo após “Não verás país nenhum”, “0 Zero” (1975), um romance experimental.
Além de “0 Zero”, embora Loyola procure sempre se reportar às realidades sociais como jornalista, ele escreve: (1) prosa experimental, interferindo na semiótica dos gêneros literários; (2) prosa nos termos do realismo fantástico, contrariando a coerência narrativa das literaturas ditas realistas – os contos reunidos em “Cadeiras proibidas” (1979) –; (3) escreve, até mesmo, literatura erótica – os contos reunidos em “Cabeças de segunda-feira” (1983) –. Assim, a literatura seguia seus próprios caminhos, engajada com temas sociais sem, no entanto, perder-se em agendas estritamente político-partidárias.
Enquanto isso, eu ainda ouvia, nas rádios, os panfletos de Chico Buarque, Milton Nascimento, Gonzaguinha e Ivan Lins. É impossível não reconhecer que, entre os trabalhos desses cancionistas, não haja canções e álbuns inteiros bastante engenhosos: (1) de Chico Buarque, a gravação de “Cotidiano”, do álbum “Construção” (1971), “Mambembe”, de “Quando o carnaval chegar” (1972), “Almanaque”, de “Almanaque” (1981), “O malandro”, d“A ópera do malandro” (1979); (2) de Milton Nascimento, a série formada pelos álbuns “Minas” (1975) e “Gerais” (1976) e algumas faixas dos álbuns do “Clube da Esquina” I (1972) e II (1978); (3) de Gonzaguinha, o álbum “Gonzaguinha da vida” (1979); (4) de Ivan Lins, algumas faixas do álbum “Nos dias de hoje” (1978).
Ouvindo todas essas gravações atentamente, verifica-se que o resultado final é fruto antes da engenhosidade dos arranjadores e dos músicos instrumentistas do que somente da arte dos compositores e de suas canções, como é costume pensar entre os ouvintes e os historiadores da MPB. Não se pode desconsiderar, entretanto, o quanto todos eles cederam às banalizações da indústria cultural, produzindo canções cada vez mais palatáveis, com protestos superficiais, restritos a ambiguidades e palavras de ordem, e arranjos incipientes, ao gosto das gravadoras comerciais. Para ilustrar isso, basta citar três exemplos dessa decadência: as canções “Apesar de você”, de Chico Buarque, e “Começar de novo”, de Ivan Lins e Vitor Martins, cuja ambiguidade política, de tão barata, se perdeu no tempo; o hino “Coração de estudante”, de Milton Nascimento, quase uma música sertaneja, de tão ordinária.
Nesse contexto artístico, pelo menos para mim, a literatura me parece ter sido melhor sucedida, esteticamente e em sua consciência política, do que a MPB, que hoje me soa supervalorizada em relação às demais artes brasileiras.
* * *
Nesse Brasil em ritmo de política, como ler a política de Glauco Mattoso? Conheci a arte de Glauco Mattoso por volta de 1982; nos tornamos amigos em 2005. A primeira informação que tive dele foram poemas do Jornal Dobrabil (1977-1981); eram poemas homoeróticos, tratava-se de arte pornô, mas não apenas isso. Ao enfocar a mídia em que essa arte-pornô circulou, verifica-se que O Jornal Dobrabil está além de ser apenas meio para a divulgação de poemas; nesse caso, com bastante ênfase, o meio é a mensagem.
Em 1984 – a mesma década de muitos dos romances engajados citados antes –, foi editado o livro de poemas “Antolorgia – arte pornô”, organizado por Eduardo Kac e Cairo Assis Trindade. O que significa, em linhas gerais, arte pornô e, em termos mais específicos, o que significa fazer arte pornô no Brasil, nos anos finais da ditadura militar? A arte pornô não procura reabilitar a pornografia, amenizando suas práxis, via definições mais amenas, como arte erótica; pelo contrário, trata-se de colocar uma situação diante da pornografia, dizendo isto é arte: exibições de shibari, performances BDSM, filmes fetichistas, roupas fetichistas, objetos de sex-shop, fotos ou vídeos de temática sexual etc.
As ditaduras nunca são somente expressões políticas; os discursos políticos, enquanto manifestações das ideologias da classe dominante, sempre estão acompanhadas das demais ideologias religiosas, científicas, estéticas, enfim, as demais superestruturas, entre elas, as ideologias regentes da moralidade – no caso, a moralidade da família e da propriedade burguesas, uma moral patriarcal, altamente repressora da sexualidade –. Nesse tipo de cultura, a libertinagem, quando coloca em xeque os valores morais conservadores, pode ser revolucionária, justamente, por expor a instabilidade sexual desse tipo de sistema.
Tais preconceitos podem ser ainda mais acentuados quando o discriminado não corresponde ao estereotipo esperado pelo fascista. Imagens de gays permitidas pelos sistemas autoritários são quase sempre paródias grosseiras, que buscam ridicularizar os homossexuais, por isso mesmo, poucos esperam por gays intelectuais, poetas, eruditos. Nesse tema, o da quebra das expectativas, Glauco faz o mesmo com o BDSM e a podolatria: ele não é psicopata, ele é uma das maiores autoridades em teorias da versificação, nas áreas de Letras no Brasil; sua podolatria não se exprime na usual podolatria dos homens com os pés femininos e delicados, mas se dirige aos pés masculinos, grosseiros e descuidados.
Quando formas de resistência política são convocadas, poucos se lembram de Wilhem Reich e da sua “Psicologia de massas do fascismo”. Em breves palavras, segundo Reich, o comportamento fascista deriva das ideologias do patriarca, entre elas, a repressão sexual das mulheres, crianças e adolescentes pelo homem, chefe de família e, por isso mesmo, chefe de estado. Para contestar essa dominação sustentada pela repressão sexual – o líder dominando as famílias, dominadas pelos pais –, toda forma de insubordinação erótica é bem-vinda. Reich não chega a essa conclusão, sua conclusão é bem mais convencional, já que ele mesmo não inclui homoerotismo, BDSM ou sexo fetichista em suas propostas de revolução sexual. Somos, todavia, pessoas da pós-modernidade; não é possível excluir minorias sexuais de quaisquer questões políticas. Nessa luta, a literatura erótica de Glauco Mattoso é imbatível.
Retomando o meio para as mensagens de Glauco, cabe a perguntar o que foi o Jornal Dobrabil e qual seu papel na arte postal brasileira. Antes de tudo, o que é arte postal? Em tempos de internet, a arte postal precisa ser redimensionada, já que boa parte de seus efeitos de sentido iniciais estão se diluindo no tempo. O correio perdeu muito de sua função comunicativa com os avanços da telefonia celular e dos minicomputadores; as pessoas continuam escrevendo cartas, mas poucas ainda são entregues pelos carteiros. Pois bem, no Brasil de 1977, Glauco datilografava uma folha de papel A4 à máquina, xerocopiava 100 exemplares e os envia dobradas, como cartas comerciais, via correio para pessoas selecionadas, entre artistas, jornalistas, políticos. Esse era o Jornal Dobrabil, cujo nome oscila entre duas homofonias: do Brasil e dobrável.
Naquela época, valer-se do correio para a criação artística era uma solução alternativa, entre outras, como forma de propagação da arte, que, ao mesmo tempo, subvertia, valorizando ludicamente, um meio de comunicação utilizado apenas de modo prático. Esse tipo de intervenção, que pode se manifestar por meio de cartões, selos, cartas, desde que envolva o correio, foi chamada arte postal. Por estar fora dos limites dos museus, as artes postais, como as artes da rua e demais formas de intervenção urbana, discutem, desde suas mídias de atuação, o estatuto da obra por, no mínimo, chamarem arte ao que os menos esclarecidos percebem apenas como cartas, selos, muros sujos de tinta.
O jornal do Glauco, contudo, não se limitou a questionar os meios de comunicação humanos; os conteúdos do Jornal Dobrabil exploram poesia visual, heterônimos, intertextualidade e, bem antes do termo, ação afirmativa homoerótica, colocando o trabalho do Glauco em meio a, pelo menos, mais quatro frentes de vanguarda.
Embora nascida na segunda metade do século XX, a poesia visual ainda padece da incompreensão de muitos. O Concretismo é divisor de águas, ele separa os reacionários dos mais progressivos por permitir distinguir o Brasil folclórico, passadista e provinciano, povoado de beatos, cangaceiros e jesuítas, daqueles que olham para o futuro da arte, investindo no experimentalismo e contrariando o ponto de vista fascista em que a arte estaria morta. Por ser verbo-visual, a poesia concreta, além da riqueza conceitual e da engenharia prosódica, próprias da poesia, investe no cromatismo, nas formas e na disposição topológica da expressão gráfica, expandindo os limites das artes verbais para as artes plásticas e enfatizando a semiótica da tipografia para além da simples transcrição da oralidade. A seu modo, Glauco é também um poeta Letrista.
Ao lado do Glauco Mattoso – o Glauco ortônimo –, o Jornal Dobrabil é da autoria de Pedro, o Podre – heterônimo do Glauco –, entre outros colaboradores, todos eles inventados – Garcia Loca, Sade Miranda, Albert Eisenstein… –. O papel literário e psicossocial da heteronímia raramente é compreendido em sua totalidade. Levado adiante por Fernando Pessoa, o drama em gente não pode ser confundido com virtuosismo; a heteronímia não é veleidade literária, mas solução bastante eficaz para a crise do sujeito por buscar sua superação enquanto conceito histórico.
A “Lei de Malthus da Sensibilidade” é da autoria de Fernando Pessoa/ Álvaro de Campos. Citando Malthus e sua célebre relação entre o crescimento em progressão geométrica da população humana versus o crescimento em progressão aritmética dos alimentos, Pessoa/Campos afirma que, embora os estímulos da sensibilidade cresçam em progressão geométrica, a sensibilidade cresce em progressão aritmética. Por consequência, assim como a população humana estaria condenada à fome, a sensibilidade estaria condenada à inanição não porque faltam estímulos, mas porque ela não estaria apta a acompanhá-los. Como resolver isso? Fernando Pessoa não apaga o sujeito, diluindo-o na piedade cristã – quer dizer, a destruição do sujeito porque a noção de “eu” se confunde com o pecado do orgulho –, nem o destrói em projetos nazistas ou stalinistas, mas multiplica o sujeito em outros sujeitos – Pessoa deu vida a 136 pessoas –, explicitando a polifonia, de dentro, para fora de si. Em seu jornal, Glauco também dialoga com outros escritores, seja divulgando poemas de Nicolas Behr, Leila Míccolis, Braulio Taváres, Luiz Roberto Guedes, Amador Ribeiro Neto, Augusto de Campos ou Eduardo Kac, …, seja por meio das citações de Haroldo de Campos, Manuel Bandeira, Mario Faustino, …
Sabe-se, por meio das ciências da linguagem, que todo enunciado se forma em processos interdiscursivos; não se trata apenas de citações eventuais, próprias de textos específicos, mas de processo constitutivo da linguagem humana. Os discursos, em seus processos de significação, não se referem a fatos, mas a outros discursos; a significação se forma na interdiscursividade. A pós-modernidade, ao insistir em citações das obras de arte ou em menções a processos de composição artística, nada mais faz do que explicitar a semiose de todo enunciado, manifestando poeticamente a intertextualidade. Glauco Mattoso, cercado por “si” e por tantos outros, soa como Legião.
Arte postal, poesia visual, heteronímia, intertextualidade, ação afirmativa queer, podolatria, sadomasoquismo… tudo isso aponta para uma das atividades políticas de Glauco Mattoso que quero, por fim, enfatizar: suas relações com a arte experimental e o papel revolucionário, nem sempre evidente, desse tipo de arte.
Quem aprecia arte politicamente engajada, e dela costuma cobrar o combate às mazelas geradas pela exploração do trabalho e pela luta de classes, deveria entender que o capitalismo não é apenas um sistema econômico, ele também não se limita a ser um discurso social entre tantos outros; o capitalismo é, antes de tudo, uma lógica que se estende a todos os modos de vida sob seu regime. Para compreender isso, vale a pena insistir nas propostas do pluralismo lógico e nas formas simbólicas, encaminhadas por Ernest Cassirer.
Em linhas bastante gerais, toda forma de abordar os objetos são também formas de os construir; tais formas são determinadas por lógicas próprias e plurais, chamadas formas simbólicas. Nesse pensamento, ratificado posteriormente pela linguística moderna, inaugurada por Ferdinand de Saussure, e pela física quântica, a determinação dos objetos depende do ponto de vista
Assim, a perspectiva, nas artes plásticas, e o sistema tonal, na música, são formas simbólicas entre outras formas possíveis, como o suprematismo ou a música dodecafônica; nessa concepção de realidade, não há lógica natural, vinculada à verdade ou à natureza, mas pluralismo lógico. Evidentemente, a lógica do capitalismo tem escopo maior que a lógica tonal, seus procedimentos vão além da música; há, porém, lógicas mais abrangentes, entre elas, a lógica do patriarcado. Quem sabe, combater a luta de classes não baste para dar fim às mazelas do capitalismo; talvez Reich, tenha iluminado a questão examinando-a de outro ponto de vista, aquele capaz de explicar porque Stalin, Mao ou Fidel tenham desencaminhado a revolução, fazendo dela pasto para suas vocações patriarcais, por isso mesmo, extremamente repressivas e autoritárias, em pouco diferindo de quem prometiam combater.
Em sua política poética, Glauco Mattoso vai bem mais longe que a tematização da luta de classes expressa em desabafos contra o sistema ou nas desventuras de personagens, muitas vezes, mal simuladas, distantes dos modos de vida do proletariado, do qual buscam tanto se aproximar. Em sua militância ardilosa, que vai de encontro às formas simbólicas cristalizadas seja por burgueses, seja por esquerdistas equivocados, Glauco vai de encontro diretamente às formas simbólicas reacionárias não porque destrói as formas, mas porque as multiplica via a engenhosidade das artes experimentais e a vivência de sexualidades alternativas.
Essa militância política, nem sempre explícita, por vezes surge enunciada desde o título de algumas de suas obras, como “Poética na política”, de 2004, ou dispersa em seus 5555 sonetos – o Glauco é recordista mundial de sonetos –. Em 2017, com o objetivo de divulgar as artes experimentais, eu e o Rodrigo Bravo demos início à série Neûron, com a publicação de cinco livros: (1) “Poemas concepto visuais”, do poeta experimental português E M de Melo e Castro; (2) “Divino gibi”, do poeta e helenista Jaa Torrano; (3) “Ouvi”, do Matheus Steinberg Bueno; (4) “Poligonia do haikai”, do Rodrigo; (5) “A pureza da pauta”, com poemas de minha autoria. Agora, em 2018, apôs editar, pela primeira vez em língua portuguesa, as traduções do poeta clássico Rufino em “Um livro para Rufino”, do Rodrigo Bravo, a Série Neûron tem o prazer de editar “Polititica”, o mais recente livro de poemas do Glauco Mattoso, pela editora Córrego.
.
Os livros de Série Neûron encontram-se no site da editora Córrego http://www.editoracorrego.com.br/
Visite meu site http://seraphimpietroforte.com.br/
Se você gosta de literatura experimental, conheça o Grupo Neûron, visite o site http://gruponeuron.com/
Se você gosta de histórias em quadrinhos, conheça o Pararraios Comics, visite o site www.pararraioscomics.com.br
Também escrevo para o portal de esquerda Carta Maior, confira minha coluna “Leituras de um brasileiro” http://www.cartamaior.com.br/
.
Antonio Vicente Seraphim Pietroforte nasceu em 1964, na cidade de São Paulo. Formou-se em Português e Lingüística na FFLCH-USP; fez o mestrado, o doutorado e a livre-docência em Semiótica, na mesma Faculdade, onde leciona desde 2002. Na área acadêmica, é autor de: Semiótica visual – os percursos do olhar; Análise do texto visual – a construção da imagem;Tópicos de semiótica – modelos teóricos e aplicações; Análise textual da história em quadrinhos – uma abordagem semiótica da obra de Luiz Gê. Na área literária, é autor de: – romances:Amsterdã SM; Irmão Noite, irmã Lua; – contos: Papéis convulsos – poesias: O retrato do artista enquanto foge; Palavra quase muro; Concretos e delirantes; Os tempos da diligência; – antologias: M(ai)S – antologia SadoMasoquista da Literatura Brasileira, organizada com o escritor Glauco Mattoso; Fomes de formas (poesias), composta com os poetas Paulo Scott, Marcelo Montenegro, Delmo Montenegro, Marcelo Sahea, Thiago Ponde de Morais, Luís Venegas, Caco Pontes, mais sete poetas contemporâneos; A musa chapada (poesias), composta com o poeta Ademir Assunção e o artista plástico Carlos Carah. E-mail: avpietroforte@hotmail.com










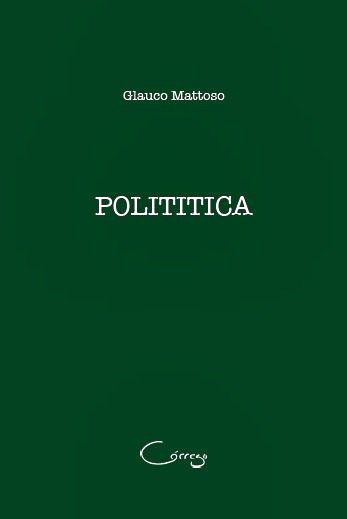
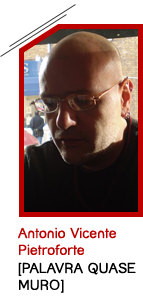



























Comente o texto