Han Kang: a literatura da alteridade

……………Autora sul-coreana Han Kang | © Todavia
.
.
Nos últimos anos, muito se falou sobre autoficção, esse território híbrido onde vida e invenção se confundem. O termo, criado pelo francês Serge Doubrovsky em 1977, define uma narrativa em que autor, narrador e personagem compartilham uma mesma identidade — mas o vivido é filtrado pela imaginação, reescrito sob o signo da arte. O pacto que se estabelece com o leitor é o da confissão, ainda que de forma estilizada. A literatura torna-se, então, espelho e palco do “eu”.
É o caso de autores como Annie Ernaux, Nobel de Literatura em 2022, que construiu uma obra inteira sobre o que ela denominou de “autobiografia impessoal” que, cá pra nós, de impessoal não tem nada. Em livros como O Lugar, Os Anos e O Acontecimento, ela transforma suas memórias em instrumento de análise social — o drama íntimo da filha de um operário se entrelaça com a história da França do pós-guerra.

Outro exemplo, entre tantos outros possíveis, é o autor estadunidense Paul Auster, que brinca com o labirinto da própria identidade em A Cidade de Vidro, ao inserir um personagem com o nome de “Paul Auster”, confundindo de vez autor e criatura, realidade e ficção.

No Brasil, Ricardo Lísias leva o gesto ao extremo: em Divórcio, o narrador é o próprio “Ricardo Lísias”, um escritor em colapso conjugal. O livro se constrói sobre a tensão entre a vida privada e sua exposição pública — e é justamente essa fricção que alimenta o fascínio do leitor.
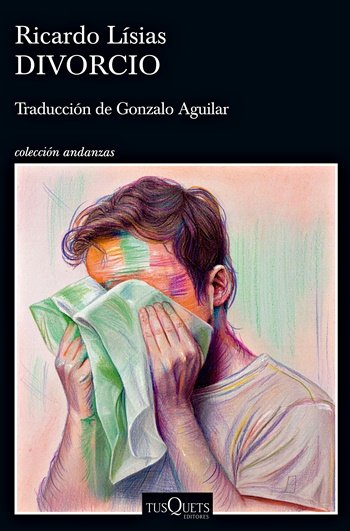
Esses autores, embora distintos, partilham do mesmo impulso: a centralidade do “eu”. A experiência pessoal é o motor da narrativa, o espaço onde se joga com a verdade e com o artifício.
O descentramento do ‘Eu’ em Han Kang
Ao nos aproximarmos da obra da escritora sul-coreana Han Kang, o que encontramos é o movimento oposto: uma recusa deliberada da autoficção. Sua literatura não se constrói sobre o “eu” que fala, mas sobre o outro que é silenciado. Em vez de um espelho, Han Kang nos oferece uma janela — e nos convida a olhar para fora.
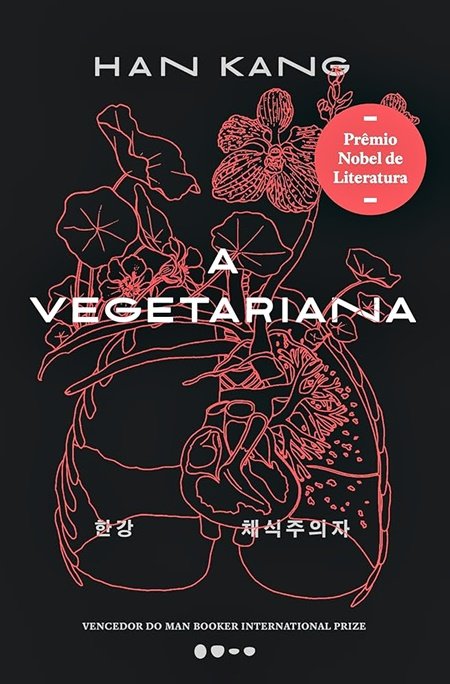
Em A Vegetariana, talvez seu romance mais conhecido, a protagonista Yeong-hye decide parar de comer carne — um gesto simples que se transforma em rebelião corporal e existencial. Mas Han Kang nunca nos permite ouvir diretamente sua voz. A narrativa é contada pelos olhos de outros: o marido, o cunhado, a irmã. Yeong-hye é observada, julgada, desejada, diagnosticada. Ela é o centro da trama, mas não da fala.
Esse silêncio é o coração do romance. Ele não é ausência, mas força: uma recusa a se deixar capturar pelas narrativas patriarcais e sociais que a cercam. Han Kang, ao negar à protagonista o direito de narrar, expõe o modo como as mulheres, tantas vezes, são faladas em vez de falar.

Em Atos Humanos, o silêncio ganha uma dimensão coletiva. O livro parte do Movimento de Democratização de Gwangju ( ou Levante de 18 de Maio), ocorrido em 1980, quando o exército sul-coreano reprimiu brutalmente manifestações democráticas. Han Kang nasceu nessa mesma cidade, mas não faz disso um testemunho pessoal. Em vez de dizer “eu vi” ou “eu senti”, ela escreve em coro: dá voz ao estudante assassinado, à mãe que procura o corpo do filho, à editora que tenta manter viva a memória dos mortos. É um memorial literário, não uma confissão.

E há ainda O Livro Branco, sua obra mais poética e, até agora, o meu preferido. A autora parte de uma dor íntima — a morte de uma irmã mais velha, falecida ao nascer —, mas transforma essa ausência em uma meditação sobre o branco: a neve, o leite, o luto, a fragilidade. Cada fragmento é uma oração mínima, uma tentativa de tocar o indizível. Coisa de poeta.
Em Sem Despedidas, o luto coletivo transforma-se em uma meditação sobre a linguagem, a perda e a memória. Han Kang cria um espaço de suspensão entre a morte e o testemunho, em que o indizível se insinua nas lacunas, nas vozes interrompidas, nos corpos ausentes, no branco gélido da neve que devora as cores e os sons. Ela resiste à espetacularização da dor e coloca em jogo a potência política de uma narração que se confunde com o sonho e com o delírio como lugar de comunhão e luto compartilhado.
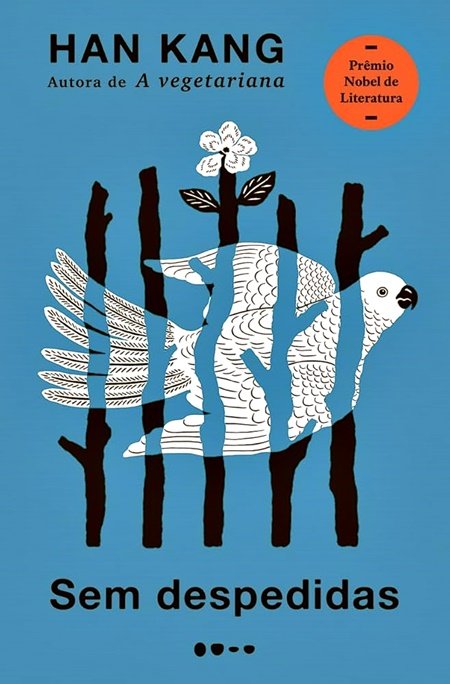
Han Kang não narra “sobre si”; ela se dissolve para falar do que é comum, do que pertence a todos. Sua literatura é um gesto de partilha.
Comparar Han Kang a autores da autoficção pode ser revelador. Annie Ernaux escreve a partir da experiência pessoal para iluminar o social. Ricardo Lísias expõe sua intimidade como matéria literária. Paul Auster joga com o próprio nome, transformando a identidade em labirinto.
Han Kang, porém, realiza outro tipo de gesto: o descentramento. Sua escrita é uma tentativa de ouvir o outro, de acolher o que está à margem, de restituir humanidade aos corpos feridos pela história.
Em tempos em que o “eu” ocupa o centro da cultura — nas redes sociais, nas narrativas confessionais, na arte da exposição —, Han Kang parece remar contra a corrente. Sua literatura propõe uma ética: a de falar com o outro, e não sobre si.
Ela nos lembra que há uma potência em desaparecer, em abrir espaço para o que não somos. Sua escrita é, ao mesmo tempo, delicada e brutal (como costuma ser a vida) — uma busca pelo humano nos seus limites: a dor, a violência, a empatia, a memória.
A leitura de Han Kang também é uma viagem à alma contemporânea da Coreia do Sul, um país que viveu transformações radicais em poucas décadas — da guerra e da ditadura ao cansaço da hiper-modernidade tecnológica.

Seus livros dialogam com essa história de cicatrizes: a repressão, o trauma, o papel da mulher, a tensão entre tradição e liberdade. O silêncio de Yeong-hye é o silêncio de muitas coreanas; o massacre de Atos Humanos ecoa no inconsciente de uma geração; o branco de O Livro Branco reflete a busca de pureza num mundo em ruínas.
Han Kang escreve como quem borda o tecido rasgado de uma nação — com palavras que são, ao mesmo tempo, ferida e cura.
.
A Empatia como Estética
Han Kang não nos oferece uma literatura do “eu”, mas uma literatura da alteridade.
Sua escrita propõe um deslocamento radical: sair de si para tocar o outro. Ao recusar a autoficção, ela não rejeita a verdade — mas busca uma verdade compartilhada, aquela que só existe quando nos deixamos atravessar pelo mundo e pelo outro.
Ler Han Kang é um exercício de empatia. É ser confrontado com o silêncio dos que não podem mais falar e, ao mesmo tempo, perceber que, nesse silêncio, há um chamado à escuta. Algo muito parecido com o que vem fazendo no Brasil a escritora Conceição Evaristo e sua autodenominada “escrevivência”, embora em chave estética ligeiramente diferente.
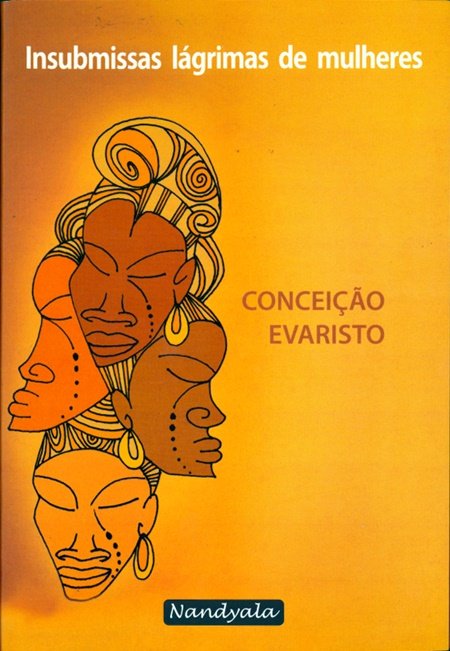
Num tempo em que tantos querem contar a própria história, ela nos lembra da urgência de ouvir as histórias dos outros. Não se trata de dar voz ao outro como um gesto de benevolência, mas sim de se calar um pouco para que o estranhamento do mundo e dos seres se revele.
É outro pacto de leitura que exige outro tipo de leitor. O pacto proposto por Han Kang é um fio invisível que nos guia na leitura. Ele determina o espaço de confiança, o lugar da dúvida, o limite entre o que chamamos de ‘real’ e o que aceitamos como ‘ficção’.
Entender e se abrir para esse jogo, suspender a descrença, o ego, a ânsia pelo linear, é essencial para ler o tipo de literatura proposta por autoras como Han Kang. Alta literatura como a dela não consegue ser aprisionada em caixinhas nem satisfaz o ímpeto taxionômico do mercado literário.
O que Han Kang cria é ‘literatura de testemunho’? ‘Literatura do luto’? ‘Literatura memorialística’? ‘Autoficção’? Nada disso se sustenta perante o silêncio comovido e indizível que vivenciamos depois de lê-la. Intuímos que o que acabamos de ler é uma escrita do entre: o espaço onde a literatura deixou de ser espelho e se tornou ponte para nossa real humanidade, com toda a dor e a delícia que essa consciência comporta.
.
Edson Cruz (Ilhéus, BA) é poeta e editor. Fundou e editou o histórico site de literatura, Cronópios. Graduado em Letras e mestrando em Escrita Literária (USP). Seus textos críticos aparecem no Jornal Rascunho e no site Musa Rara. Tem 12 livros publicados. Lançou em 2020, Pandemônio (poemas) pela Kotter Editorial e, em 2021, Fibonacci blues – uma novela fractal, pela mesma editora. Em 2022, lançou Negrura, também pela Kotter e, em 2025, Satori na Laje, pela EditoRia.





































Comente o texto