Um naturalista diante do espelho
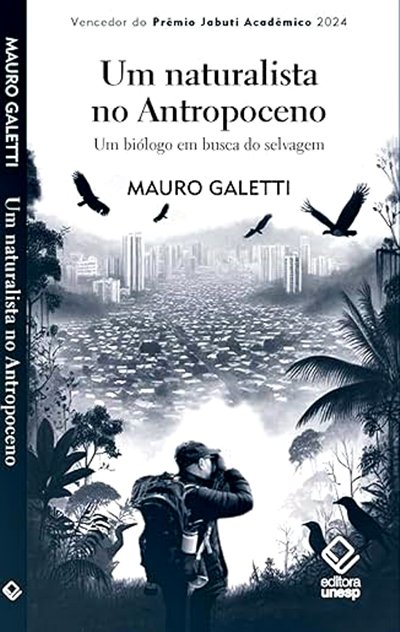
.
Mauro Galetti, biólogo e professor da Unesp, estreia como escritor de ofício em Um naturalista no Antropoceno: um biólogo em busca do selvagem, um livro que ultrapassa o relato científico e se instala no território da narrativa de pensamento — entre o ensaio e a crônica de campo, entre a autobiografia e a meditação planetária. A obra, que reúne quinze capítulos curtos e densos, se apresenta como o diário de um naturalista que desperta em meio à era que ele mesmo ajuda a diagnosticar: o Antropoceno, tempo geológico em que o ser humano se tornou força transformadora — e destrutiva — do planeta Terra.
O capítulo inaugural, “Antropoceno: o asteroide somos nós”, estabelece o tom cósmico e irônico do livro. Galetti conduz o leitor desde a formação da Terra até as grandes extinções, culminando na revelação desconcertante: o atual agente de colapso é o próprio Homo sapiens. O texto conjuga precisão científica e imaginação narrativa: “Hoje nós somos os Tyrannosaurus vendo uma bola de fogo no céu se aproximar; a diferença é que podemos mudar o curso desse asteroide.” Ao usar o humor e a analogia para explicar processos complexos — a formação de novas rochas, os tecnofósseis, a multiplicação do plástico — o autor realiza uma operação literária rara: transforma a vulgaridade da catástrofe em clareza poética.
Logo em seguida, em “O Big Mac da preguiça-gigante”, Galetti funde o olhar do cientista e o do contador de histórias. Ao reconstituir a vida pré-histórica da Chapada dos Guimarães, descreve uma preguiça-gigante que devora frutos de pequi com apetite de fast food. A cena é ao mesmo tempo cômica e trágica, uma alegoria do apetite humano moderno. A narrativa é cinematográfica, mas o subtexto é ecológico: assim como a preguiça-gigante desapareceu, o Cerrado que ela habitava também está em vias de extinção. A linguagem leve disfarça um diagnóstico severo — a extinção não é um evento remoto, mas uma continuidade de nossa história alimentar, energética, cultural.
O livro alterna o registro autobiográfico com episódios de pesquisa e contemplação. Em “Cambridge: o nascimento de um naturalista” (capítulo fascinante sobre seu mestrado em Ecologia na secular universidade que atravessou a Idade Média e teve entre seus alunos nada menos do que Darwin, outros 15 que viraram primeiros-ministros do Reino Unido e 95 professores que receberam prêmios Nobel), narra sua formação científica na Inglaterra, mostrando como a tradição darwiniana se projeta sobre o olhar de um biólogo brasileiro. Aqui o naturalista se descobre também narrador de si, alguém que reflete sobre a própria condição colonial do conhecimento: formado em universidades do Norte, mas comprometido com as florestas e biomas do Sul. O contraste entre Cambridge e Bornéu, entre a torre acadêmica e o campo tropical, cria uma tensão estética que percorre todo o livro.
.

…….A bela Jacutinga – dispersora de sementes do palmito-juçara
.
Nos capítulos “Saibadela: a floresta dos palmitos” e “A jacutinga e as mudanças climáticas”, o autor desce das abstrações geológicas à experiência concreta da perda. A devastação do palmito-juçara, símbolo de uma economia predatória, e o desaparecimento gradual da jacutinga, ave ameaçada de extinção, tornam-se emblemas narrativos da nossa falência moral diante da natureza. Nesses momentos, Galetti abandona a ironia e escreve com uma simplicidade ferida, quase elegíaca. Seu olhar não é apenas o do cientista que mede a biodiversidade, mas o do homem que percebe o fim de um modo de vida.
Em “Bornéu: entre daiaques, calaus e javalis-barbados”, o relato ganha um tom antropológico. Galetti convive com os nativos e observa a convivência ritual entre o humano e o não humano, num equilíbrio que o Ocidente perdeu.
O livro todo perpassa uma dimensão mais filosófica — a ideia de que “asselvajar” o Homo sapiens, como propõe o capítulo final, é reaprender uma humildade cósmica, uma ética do limite.
A parte final, que inclui “Bahamas: entre iguanas obesos e diabéticos”, “Galápagos: florestas de goiabeiras e tartarugas solitárias” e “Fernando de Noronha: influencers entre gatos e ratos”, reúne o que poderíamos chamar de crônicas da distorção ecológica. Galetti observa como as ilhas — metáforas perfeitas da biosfera — se tornaram laboratórios do desequilíbrio. Iguanas engordadas (com colesterol alto) por turistas, tartarugas solitárias cercadas por goiabeiras invasoras (imaginem, Galápagos quase que “reflorestado” por pés de goiaba), gatos e ratos devastando aves nativas: as cenas se repetem com ironia amarga, denunciando o colapso como espetáculo. São pequenas parábolas da convivência fracassada entre o humano e o mundo.
.

….Um iguana-marinho de Galápagos: vegetariano e especialista em algas
.
O último capítulo, “Asselvajando o Homo sapiens”, é a síntese ética e poética da obra. O autor propõe “asselvajar” não como retorno ao primitivo, mas como reencontro com a dimensão do selvagem que ainda resiste em nós — a curiosidade, o espanto, o cuidado. Galetti inverte o paradigma antropocêntrico e sugere uma ecologia do afeto.
O mérito literário do livro está nessa tradução simbólica da ciência: a estatística se transforma em narrativa; os dados, em revelação. O texto, embora dirigido a um público amplo, mantém densidade conceitual e ritmo de ensaio. A escrita flui com leveza, alternando humor, lirismo e indignação — uma tríade que lembra o melhor da tradição dos naturalistas humanistas, de Thoreau a David Quammen.
O livro apresenta certo didatismo ocasional que, em certos trechos, poderia diluir a tensão poética com um excesso de explicação, mas não é o que acontece. Galetti consegue manter a fluidez de seu texto e o tom pedagógico é coerente com o que parece ser se projeto: falar com clareza num tempo confuso, em que a linguagem da ciência precisa reconquistar o espaço da imaginação. Um grande trunfo do livro.
No conjunto, Um naturalista no Antropoceno é uma obra de transição — entre o diário e o tratado, entre a biologia e a literatura — que recoloca a figura do naturalista no século 21: não mais o explorador que descobre o novo, mas o testemunho de quem observa o desaparecimento. Galetti escreve com a consciência de que o planeta é também uma memória em decomposição, e que narrar pode ser um modo de resistir à extinção.
Em tempos de negacionismo climático e de tecnociência sem alma, seu livro é um gesto de lucidez e delicadeza — um convite a repensar o lugar do humano na Terra e a reabrir, entre os escombros do Antropoceno, um caminho de reconciliação com o selvagem que ainda nos habita.
Apesar de tudo, o livro deixa transparecer nas entrelinhas um certo otimismo, ou talvez seja o impacto da paixão e vivências e reflexões do autor transcritas com tanta leveza.

Onde adquirir: Um naturalista no Antropoceno, de Mauro Galetti (Editora UNESP, 2023)
***
.
Entrevista com Mauro Galetti – Um naturalista no Antropoceno

.
Edson Cruz: Você abre o livro afirmando que “o asteroide somos nós”. De que maneira essa metáfora resume não apenas a era geológica que vivemos, mas também o modo como a humanidade passou a se ver — e a se justificar — dentro do planeta?
Mauro Galetti: A metáfora se refere ao asteroide nomeado de Chicxulub que há 65 milhões de anos caiu na Terra e causou a extinção de quase todos os dinossauros (exceto as aves) e mais um monte de outras espécies. Nossos impactos parecem ser tão grandes quanto esse asteroide, pois estamos eliminando milhões de espécies na Terra, além de alterando o clima no planeta.
EC: O conceito de Antropoceno ainda é debatido na comunidade científica. Diante de suas experiências em campo — da Mata Atlântica a Bornéu —, que evidências você considera mais contundentes para defender que entramos, de fato, em uma nova época geológica moldada pelo ser humano?
MG: O conceito e a discussão dentro da comissão internacional sobre estratigrafia, que define quando e como as Eras começam e terminam, sofreram muita pressão política dos governos negacionistas, porque a enorme maioria dos cientistas já admite que estamos em uma nova Era geológica. Não há dúvida alguma que o homem é hoje um dos maiores modificadores do clima e da vida na Terra e no livro discuto porque estamos no Antropoceno de forma inequívoca. Ciência é baseada em evidências e não adianta pressão política. A Terra é redonda, vacinas funcionam e a Terra está esquentando…
EC: Ao longo da obra, há uma tensão entre a precisão científica e a emoção narrativa. O biólogo se deixa contaminar pelo escritor? Como foi para você traduzir a linguagem da ciência em uma escrita que busca também despertar sensibilidade e espanto?
MG: Nesse livro eu tive que aprender a escrever para outros públicos, não apenas àquele público acadêmico que estou acostumado a escrever quando publico um artigo científico. O livro tem uma narrativa autobiográfica, por isso entra muito da minha experiência e emoções.
EC: Em “O Big Mac da preguiça-gigante”, você transforma uma cena pré-histórica em parábola do consumo moderno. Qual é o papel da imaginação e da metáfora no trabalho de um cientista que também quer se comunicar com o público não acadêmico?
MG: Se você estuda espécies extintas, sempre quer voltar no tempo e pensar como elas eram, como elas viviam. Ao longo da minha carreira como cientista, estudo a dispersão de sementes por grandes mamíferos extintos recentemente. Então nesse capítulo eu busquei contar um dia na vida de uma preguiça gigante em nosso cerrado. Para trazer informações que levem o leitor a entender, eu preciso trazer exemplos do dia a dia dele.
EC: Em seu livro, você descreve a relação íntima entre a extinção de grandes aves frugívoras, como tucanos e jacutingas, e a redução no tamanho das sementes do palmito-juçara. Isso sugere que os humanos estão alterando não só ecossistemas, mas a própria trajetória evolutiva das espécies. Que outras transformações evolutivas no Antropoceno lhe preocupam ou intrigam?
MG: Sim, estamos selecionando artificialmente bactérias, vírus e fungos que podem ser letais no futuro. É uma guerra armamentista. Sempre que criamos um remédio, estamos selecionando cepas mais resistentes. É a seleção natural agindo.
EC: Você narra com crueza a tensão entre conservação e subsistência — como no caso dos palmiteiros do Vale do Ribeira. Como conciliar a urgência ecológica com a realidade socioeconômica de comunidades que dependem de recursos naturais para viver?
MG: As comunidades mais pobres e marginalizadas são sempre as mais afetadas, seja quando são removidas para a criação de uma Reserva, seja para a construção de uma barragem. A ciência pode e traz soluções baseadas na natureza com alto poder econômico, mas as comunidades precisam de forte apoio e infraestrutura para se desenvolverem e sair da pobreza. O exemplo do Vale do Ribeira que trago no livro é um exemplo da realidade de pobreza x conservação.
EC: Em Bornéu, você testemunhou a expansão do dendê e seu impacto devastador. É possível estabelecer uma produção globalmente sustentável de commodities como o óleo de palma, ou a solução passa por reduzir drasticamente nosso consumo?
MG: Sim, mas depende da escala. O óleo de palmeira dendê é usado em centenas de produtos, de cosméticos, a alimentos e biocombustíveis. Por isso a demanda é enorme. Destruir uma mata primária, com centenas de espécies para plantar e produzir apenas o óleo de dendê, é destruir uma biblioteca e colocar no lugar um único livro.
EC: O Brasil vive um paradoxo entre a urgência ecológica e o apelo econômico do petróleo. Diante da possibilidade de exploração na foz do Amazonas, como você, cientista e naturalista brasileiro, enxerga essa decisão? Há algum argumento que justifique tal empreendimento — ou estamos repetindo, com nova roupagem, o mesmo padrão extrativista que nos trouxe ao Antropoceno?
MG: Sim e não. Houve uma pressão política enorme da base do governo Lula para liberar a exploração do petróleo. O Lula já depende de uma base extremamente conservadora, imagine se ele perde a base do governo? Ficaria ingovernável. Certamente estamos diante de um impasse perigoso entre políticos conservadores e meio ambiente, por isso temos que eleger políticos que tem pautas ambientais.
EC: Ao relatar a domesticação dos iguanas nas Bahamas e o comportamento alterado de espécies em ilhas como Galápagos e Noronha, você denuncia o turismo que transforma animais selvagens em atrações dependentes. Como equilibrar o ecoturismo — importante para a conservação — com a manutenção do comportamento natural das espécies?
MG: O ecoturismo tem que ser mais bem organizado e controlado. Isso pode parecer elitista, mas quando você vai num Museu ou num Zoo, você não pode pegar nas peças ou alimentar os animais. Nas Bahamas quase todas as atrações turísticas são altamente danosas para o meio ambiente e aos animais, enquanto em Galápagos é muito mais controlado.
EC: O javali aparece no livro como uma espécie invasora cujas consequências extrapolam o esperado — aumento de morcegos-vampiros, disseminação de doenças, desequilíbrios ecológicos. O que esse caso nos ensina sobre os perigos de intervenções ecológicas sem visão sistêmica?
MG: Os javalis estão cada vez mais comuns em nossos ecossistemas e é urgente a necessidade de controlá-los, porque será impossível erradicá-los. Mas eu entendo que matar um javali é uma situação que talvez pudesse ser evitada com outras formas de manejo, talvez com cercas elétricas nas plantações.
EC: Você é um dos poucos pesquisadores brasileiros que se movem com naturalidade entre laboratório, floresta e, agora, na prosa. Essa travessia — entre a ciência e o ensaio — é também uma forma de resistência ao modo tecnocrático com que tratamos a natureza?
MG: Sem dúvida, todo cientista tem que ir aonde o povo está! A ciência brasileira é quase toda feita nas universidades públicas, então é função do pesquisador, além de buscar excelência nas suas pesquisas e publicações, traduzir o que ele faz para as pessoas fora da academia. A ciência é muito bonita para ficar apenas dentro dos muros acadêmicos. A ciência só perde em se colocar num pedestal.
EC: O Antropoceno é uma categoria científica, mas também já se imiscuiu na cultura e na filosofia. Você acha que a linguagem da arte e da literatura pode contribuir de modo mais eficaz do que a própria ciência para fazer as pessoas compreenderem a gravidade da crise planetária?
MG: Eu não tenho dúvida disso, eu adoraria trabalhar com músicos, dançarinos e outros artistas para transmitir e popularizar a ciência as pessoas. Essa mistura de ciência e arte é a melhor forma de atingir todos os públicos.
EC: Sua passagem por Cambridge foi marcada por solidão e descoberta, mas também por rigor científico. Que aspectos desse período permanecem em sua maneira de orientar jovens pesquisadores e de pensar a ciência hoje no Brasil?
MG: A solitude me ensinou muito. Eu sempre deixo os alunos pensarem nas suas respectivas teses com calma e tempo, especialmente os de doutorado. Ao mesmo tempo, eu sempre estou ciente que o orientador tem que estar presente e discutir os projetos dos alunos, sem inibir suas ideias. Eu prezo muito as boas ideias dos alunos.
EC: Em vários momentos do livro, sentimos uma certa “saudade do selvagem” — um luto pela natureza que se perde. Como um cientista que testemunha diariamente esse empobrecimento biológico lida com o peso emocional e mantém a motivação para seguir na luta?
MG: É como um médico que trata pessoas com graves doenças, você precisa ser profissional e se distanciar do problema para poder solucioná-lo. A minha motivação é ver cada vez mais jovens e pessoas engajadas na proteção do meio ambiente. As mudanças demoram, mas acontecem. Hoje vejo meus ex-alunos em postos chaves na conservação, multiplicando ações para a proteção do meio ambiente.
EC: Você afirma no livro que sua trajetória é “fruto de investimento público de longa duração”. Num tempo de desmonte das políticas científicas e ambientais no Brasil, como preservar a continuidade de uma formação que incentive curiosidade, liberdade e pensamento crítico?
MG: A única maneira do Brasil se desenvolver e tirar milhares de pessoas da pobreza é investindo em educação de qualidade que fomente a curiosidade dos jovens e investir pesadamente em bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado. Pelo menos 5% do PIB brasileiro deveria ser voltado para a Ciência e Tecnologia e não apenas 1.2%. A maioria dos brasileiros nem sabe o que faz um cientista, mas tudo está relacionado com a boa ciência: vacinas, comunicação, transporte, lazer e alimentos, vem dos trabalhos realizados pelos cientistas.
EC: Se o Antropoceno é a Era em que nos tornamos uma força geológica, que caminhos você vislumbra para que a humanidade exerça essa força de forma regenerativa — e não destrutiva? O que precisamos abandonar e o que precisamos resgatar como sociedade?
MG: Da mesma maneira que a humanidade cria problemas ambientais, pode criar as soluções. Hoje existem soluções diversas como economia circular, energias limpas, educação ambiental. Precisamos mudar a ideia de que desenvolvimento é atrelado ao consumo. Um país desenvolvido é um país com pessoas felizes que tem comida na mesa, natureza para desfrutar e segurança. Não precisa ter um iphone novo ou uma SUV para ser uma pessoa feliz.
EC: Há no livro uma recusa clara do apocalipse como espetáculo. Você não escreve para alimentar o medo, mas para restaurar a admiração. A ciência ainda pode ser uma forma de esperança?
MG: A ciência é a melhor estratégia em que podemos nos apoiar para resolver nossos problemas. Meu livro não busca vender a ideia de apocalipse e que o mundo vai acabar. O mundo vai continuar sem a espécie humana; o que eu mostro é que nós podemos fazer a diferença e ele ser ambientalmente e socialmente mais justo.
EC: Por fim: se o naturalista do Antropoceno é uma testemunha do desaparecimento, qual seria hoje a sua tarefa essencial — observar, alertar ou narrar o que resta?
MG: Tanto observar, como alertar e buscar soluções. Os Naturalistas do Antropoceno não podem ficar apenas apontando o dedo para os problemas ambientais ou sugerindo soluções utópicas. Temos hoje tecnologia e ciência para reverter a maioria dos problemas ambientais.
EC: Quais os livros (além do seu) você recomendaria para o leitor da Musa Rara interessado em aprofundar e se tornar um dispersor informado das sementes que você nos apresentou?
MG: Se você percebe a natureza ao seu redor, eu sugiro “Um Sabiá Sujo” do Marcos Rodrigues e “O Mastodonte de Barriga Cheia” do Fernando Fernandez. Eu estou escrevendo um novo livro que é ao mesmo tempo uma viagem aos lugares ou espécies que podem desaparecer um dia. Quem sabe no ano que vem conversamos mais dele.
.
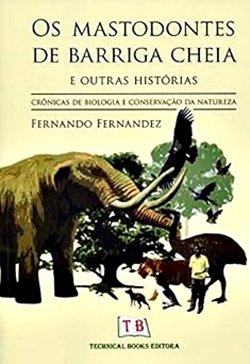
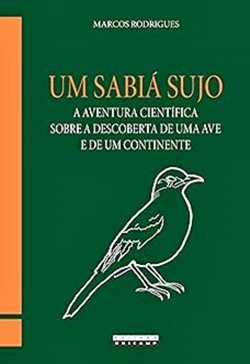
.
.
Obs.: Com exceção das imagens dos livros sugeridos, todas as outras foram fornecidas pelo autor.
.
***
.
Para saber mais sobre Mauro Galetti, confira uma entrevista dele para TV Unesp.
.














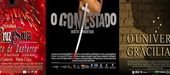






















Comente o texto