Um corvo e seu duplo
.
Na obra de Alphonsus de Guimaraens, procurarei destacar uma questão bastante cara à nossa contemporaneidade: a do sujeito cindido, expresso na percepção dilemática de que o eu se define pelo que está fora de si, para além de refúgios ou de crenças numa insustentável noção de “unidade”. Para isso, será lido o poema “A cabeça de corvo”, publicado em 1902, em Kyriale, último livro a sair em vida do autor, mas comportando os seus primeiros poemas, escritos entre 1891 e 1895. Portanto, trata-se da produção inicial de Alphonsus, editada em último lugar.
.
A CABEÇA DE CORVO
.
Na mesa, quando em meio à noite lenta
Escrevo antes que o sono me adormeça,
Tenho o negro tinteiro que a cabeça
De um corvo representa.
A contemplá-lo mudamente fico
E numa dor atroz mais me concentro:
E entreabrindo-lhe o grande e fino bico,
Meto-lhe a pena pela goela adentro.
E solitariamente, pouco a pouco,
De bojo tiro a pena, rasa em tinta…
E a minha mão, que treme toda, pinta
Versos próprios de um louco.
E o aberto olhar vidrado da funesta
Ave que representa o meu tinteiro,
Vai-me seguindo a mão, que corre lesta,
Toda a tremer pelo papel inteiro.
Dizem-me todos que atirar eu devo
Trevas em fora este agoirento corvo,
Pois dele sangra o desespero torvo
Destes versos que escrevo.
.
(GUIMARAENS, 2001, p. 126)
.
O poema é escrito majoritariamente em decassílabos; eventualmente, há verso mais curto, de seis sílabas, operando cortes rítmicos na primeira, terceira e quinta estrofes.
O contato com esse texto provoca estranheza, quando pensamos no Alphonsus quase sempre vinculado à tradição católica, mariana. Mas aqui ele deixa fluir um aspecto demoníaco, que dialoga com certa tradição da poesia romântica. O poema namora e convoca o mal, representado na figura do corvo, e situa-se em uma linhagem de tradição literária europeia, desde a matriz em língua inglesa criada por Edgar Allan Poe com o seu “The raven”, cuja primeira publicação se deu em 1845.
Existe, porém, uma diferença básica entre o corvo de Poe e o de Alphonsus. No primeiro, uma ave de verdade adentra o espaço onde o poeta está. O corvo pousa num busto de Minerva, objeto inanimado. Em Alphonsus sucede o contrário: inexiste o corvo real. Trata-se de um tinteiro, a partir do qual vai ser criada uma fantasmagoria: o objeto será transformado num Outro. Assiste-se à criação de um duplo, a parte maldita que o poeta tenta localizar fora de si, mas que, a rigor, corresponde a sua projeção num objeto que ele elege para representá-lo. O objeto-corvo simultaneamente o atemoriza e o atrai. Trata-se de um ser aparentemente não desejado, mas que será responsável em última instância pela própria criação literária.
Há em verdade no poema inteiro uma série de duplos para representar o poeta. Falando em duplos, façamos um parêntese para destacar a maleabilidade de um verbo em língua portuguesa: “dobrar”, que pode assumir sentidos contrastantes. Significa, ao mesmo tempo, dividir e multiplicar. Se dobramos algo ao meio, passamos a ter metades do objeto, que fica, portanto, dividido. Mas, se dobramos a quantidade de determinado objeto, ele se encontra multiplicado por dois.
É similar a relação do poeta para com o tinteiro-corvo. De algum modo, o poeta vai se sentir enfraquecido, esvaziado de seus pontos de referência; mas, por outro lado, também se verá pluralizado, transmutando-se ao mesmo tempo naquele outro, o objeto com o qual se defronta.
Lidamos com um poema narrativo, no qual se conta uma história, desde a caracterização do ambiente até o epílogo. Ao longo do enredo, o poema vai desdobrar, como dissemos, uma série de associações do duplo. Inicialmente, o tinteiro é um outro, o corvo; o corvo é um outro, a inspiração, a fonte da escrita; e, como essa fonte da escrita em primeira e última instancia provém do poeta, o corvo acaba sendo também o próprio poeta. Imagens em espelho vão se adensando no texto.
Esse processo já pode ser intuído numa leitura que percorresse apenas os hexassílabos, a sinalizar uma síntese (omito a preposição “de” no verso 4) : “Um corvo representa / Versos próprios de um louco/ Estes versos que escrevo”. Os versos são do corvo, e do louco, isto é: são meus, poeta-louco-e-corvo.
A narrativa pode ser acompanhada pela divisão em estrofes: na primeira, a caracterização do ambiente, o local em que os eventos vão transcorrer; na segunda, a preparação para a escrita; na terceira, o início da criação propriamente dita; na quarta, a sequência febril e descontrolada da criação; na quinta, uma tentativa de exorcismo, a verificar se desejado ou não, isto é, se o poeta intenta mesmo se livrar desse mal (ou desse bem) que o corvo representa.
Observando a primeira estrofe, constata-se a descrição de um ambiente familiar e doméstico, a mesa de trabalho, mas pouco a pouco surgem signos de estranheza: “meio à noite” foneticamente evocando “meia-noite,” momento da metamorfose, da transição; noite lenta, o custoso escoar das horas. O negro da escuridão externa se internaliza na imagem do tinteiro, o escuro da tinta duplica o escuro da noite. Portanto, o negror externo metonimicamente se reapresenta no bojo do tinteiro, ambiente propício a fantasmagorias, que não irão tardar. Por enquanto, o negro tinteiro é objeto literal, de que o poeta se serve como algo de que é dono. A cabeça de corvo é simples adorno, “imagem” acoplada a um objeto de uso prático. Aqui, portanto, não existe (ainda) dúvida sobre o que é “real” — o tinteiro — e o que ele, por assim dizer, metaforiza — a cabeça de corvo. Ao longo do poema, gradativamente, ocorrerá uma inversão desses planos, quando o corvo invadir a percepção conturbada do poeta.
Tal é o quadro, na estrofe 1, que precede a criação: como se, antes de iniciar a escrita, as coisas, embora um pouco turvas, ainda estivessem em seus lugares. Mas em que momento ele se prepara para escrever? “Antes que o sono me adormeça”. O poema valoriza espaços/tempos fronteiriços, interstícios, porque não eclode nem na vigília — quando o escritor estaria lúcido, consciente — nem tampouco quando o criador já estaria em puro sonho, dormindo. Ele escreve “antes que o sono [o] adormeça”, zona de indefinição, borda obscura entre vigília e sonho; esta, sim, é a configuração ideal para a poesia simbolista. Não à toa, o Simbolismo valoriza a paisagem noturna, e suas sugestões de penumbra.
Assim definido o ambiente, na estrofe 2 o poeta prepara-se para a escrita: “A contemplá-lo mudamente fico / E numa dor atroz mais me concentro: /E entreabrindo-lhe o grande e fino bico,/ Meto-lhe a pena goela adentro”. A mera contemplação gera apenas a mudez. Para vencê-la, será necessário o confronto. O poeta vai recorrer a estratégias de duro combate, ao engajar-se numa batalha na qual, paradoxalmente, aspira à “derrota”, isto é, à submissão frente à força indomável do “corvo”. Num contexto de luta, serão frequentes as referências a agressão e dor.
É notável a ambiguidade do pronome oblíquo, em “entreabrindo–lhe”: o leitor crê que se refere a “tinteiro”, mas não pode se esquecer de que o substantivo “corvo” também é masculino. A seguir, o poeta declara que sua ação incide no “grande e fino bico”. Portanto, o substantivo “bico” assinala a substituição do que era plano literal (o tinteiro) pelo nível metafórico (o corvo), que passa a ser vivenciado como real. A partir daqui a transação do poeta se dará com a metáfora, não mais com o objeto literal. Bico e goela são atributos privativos da imagem, não do tinteiro. O poeta, por sua vez, tal qual a ave, também dispõe de pena, com que escreve.
Observamos, portanto, dois seres diferentes, homem e corvo, compartilhando, porém, uma série de simetrias. Sem nenhuma pena, ele mete a pena não no tinteiro, mas no corpo da ave, que sofre. Mas de tal modo a ela ele se irmana, que, previamente (verso 2), já sentira a dor a ser infligida ao outro. Ele sofre toda a violência que descarrega em seu duplo: aparentemente um ser diverso, mas, a rigor, uma figuração fantasmática de si mesmo.
A estrofe 3, numa perspectiva metalinguística, marca o início da criação; o poema dentro do poema começa a ser escrito: “E a minha mão, que treme toda, pinta / Versos próprios de um louco”. Quando comenta que “pouco a pouco / De bojo tiro a pena rasa em tinta”, explicita o processo de vampirização. O tinteiro-ave dispõe da tinta ou da seiva com a qual vai nutrir seu texto.
Após abastecer-se nesse outro, a criação se inicia, e o poeta se declara um veículo passivamente afetado por esse frenesi, não como sujeito de seus gestos. Primeiro, não é ele quem escreve: é “a minha mão”, como se ela por conta própria respondesse a estímulos — um pedaço de si ao mesmo tempo integrante de seu corpo e dele autônomo. Segundo, a mão “treme toda”; ora, o tremor é outro índice de descontrole da situação. O poeta vai encenar uma espécie de transe, em que tudo nele, em termos de escrita, virá de fora: ele será apenas o receptáculo desse frisson que o atordoa. O império do outro, aparentemente, tem completo domínio sobre ele. A mão, num reflexo de fuga, responde, começa a tremer. A partir daí, “Pinta versos próprios de um louco”. Pintar, e não escrever, porque se trata de gesto que remete ao deslizamento numa superfície da tela, teoricamente mais solto e menos linear do que a uniformidade da escrita sobre a folha de papel. Ainda assim, no resultado, o escritor não obtém versos seus, mas “próprios de um louco”, em quem ele não quer se reconhecer. O texto não é dele, é de sua mão, é de um louco, de um “eu” ignorante do que escreve, em plena irresponsabilidade autoral frente ao domínio consciente ou às conexões lógicas do texto.
Desencadeada a escrita, a estrofe 4 dá conta da sequência febril da criação: “E o aberto olhar vidrado da funesta /Ave que representa o meu tinteiro, / Vai-me seguindo a mão, que corre lesta, / Toda a tremer pelo papel inteiro”.
Aqui observamos a inversão radical do que fora expresso na estrofe 1: “Tenho o negro tinteiro / Que a cabeça de um corvo representa”. Como dissemos, o poeta possuía o tinteiro, o corvo era a metáfora do objeto. Agora, existe “o aberto olhar vidrado da ave que representa o “meu tinteiro”, ou seja, o poeta passa a defrontar-se com a ave e a declarar o tinteiro como sua metáfora. Além disso, o olhar é “vidrado”, e o adjetivo propicia ao menos duas leituras: refere-se a algo de vidro (porque remete a tinteiro) e/ou a algo alucinado — o olhar vidrado de um louco. Mas louco não era ele? Agora louca é a ave? Mas, se “ela” sou “eu”…
O poeta declara que, sob o influxo desse olhar, ou seja, como fuga, a mão treme e “pinta” no papel. Percebe-se com mais clareza como ele é seduzido pela força que o atemoriza, como necessita desse “mal”. Precisa fugir da malignidade da ave, para, através da fuga, chegar à poesia. Ele persegue a perseguição que o persegue. Ser acossado pelo corvo significa principalmente abrigar-se na folha que registra sua fuga, e, portanto, chegar à poesia. Ele busca o olhar que o atemoriza, pelo fato de insistir em ver que a ave o está vendo. O poema torna-se a matéria que pode comportar o insuportável.
Na última estrofe ocorre uma tentativa de exorcismo: “Dizem-me todos que atirar eu devo / Trevas em fora este agoirento corvo, / Pois dele sangra o desespero torvo / Destes versos que escrevo.” Uma tentativa inócua: por que haveria de livrar-se daquilo que é fonte da poesia? A incitação ao descarte da ave não provém do escritor, mas da voz de um “bom-senso” expresso em pronome indefinido: “Dizem-me todos”. Nada indica que ele compactue com esse juízo: apenas faz ecoar a ponderação alheia, dos não comprometidos com a dor e o gozo da criação.
Enquanto os sensatos aconselham o expelir e a expulsão (“Trevas em fora”), o poeta labora no incorporar e na absorção, no desejo de se abastecer sem trégua na zona de escuridão que o desafia. A fusão final de poeta-poesia-tinteiro-corvo surge através da transformação da tinta em sangue, que se agrega indelevelmente ao texto: tudo se traduz em escrita e se mescla “[n’]estes versos que escrevo”.
Muito de nossa poesia moderna desenvolveria questões presentes e prementes no Simbolismo, alvo de duplo recalque: tanto dos contemporâneos parnasianos, quanto dos sucessores modernistas. A impureza da arte, nascida de pulsões obscuras e contraditórias, será tema privilegiado pelos poetas do século XX. Em fins do século XIX, Alphonsus de Guimaraens, de certo modo, praticamente antecipou o conceito de que Mário de Andrade se valeria para intitular, em 1917, seu livro de estreia. Sim, diriam ambos, Há uma gota de sangue em cada poema.
.
REFERÊNCIA
GUIMARAENS, Alphonsus de. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2001.
Antonio Carlos Secchin nasceu no Rio de Janeiro. É Doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1982). Professor de Literatura Brasileira das Universidades de Bordeaux, (1975-1979), Roma (1985), Rennes (1991), Mérida (1999), Nápoles (2007), Paris Sorbonne (2009) e da Faculdade de Letras da UFRJ. Membro de 42 editorias ou conselhos, no Brasil e no exterior, sobretudo de periódicos de investigação literária. Total de 15 prêmios nacionais, destacando-se: 1.o lugar, categoria “ensaio”, do Instituto Nacional do Livro (1983); Prêmio Sílvio Romero, da Academia Brasileira de Letras, 1985, ambos para João Cabral: a Poesia do Menos; Prêmio Alphonsus de Guimaraens, da Fundação Biblioteca Nacional (2002); Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras (2003); Prêmio Nacional do PEN Clube do Brasil (2003), atribuídos a Todos os Ventos como melhor livro de poesia. Poeta com vários livros publicados, destacando-se Todos os ventos (poesia reunida, 2002), que obteve os prêmios da Fundação Biblioteca Nacional, da Academia Brasileira de Letras e do PEN Clube para melhor livro do gênero publicado no país em 2002. É membro da Academia Brasileira de Letras. E-mail: acsecchin@uol.com.br











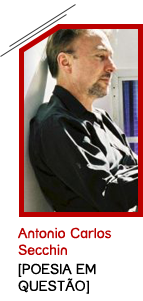
















Comente o texto