Poesia & Ortografia
.
A ortografia também é gente.
Bernardo Soares
A maneira correta de grafar as palavras
Já nos bancos escolares, muitos anos e vários acordos ortográficos atrás, a intuição me segredou que ortografia é só uma questão de hábito, não há por que se incomodar tentando entender. Habituei-me, então, a grafar “ràpidamente”, “sòzinho”, “tôda” e por aí vai, quer dizer, ia. Na aula em que a professora explicou que “tôda” se escreve assim, para não se confundir com “toda”, uma espécie de ave pequena, não me contive: “Mas, professora, ninguém nunca viu essa tal ave”. E acrescentei: “Por que não botam o acento no passarinho e deixam o toda e o todas em paz?”. A professora sorriu, os colegas gargalharam, como se eu tivesse feito uma piada. Mas era a sério. Foi a única vez, na vida, até agora, que me interessei por ortografia. Era só um passarinho, é verdade, e um acento circunflexo, coisa de somenos, mas, não fosse o humor involuntário, podia ter sido um bom começo.
Daí por diante, sempre que a oportunidade se ofereceu, o humor passou a ser proposital, e nunca tive problemas com a matéria. A maneira correta de grafar as palavras? Vamos fixando aos poucos, a memória visual ajuda, habituamo-nos, e está resolvido. É só não permitir que o hábito se enraíze, ou seja, convém saber que não é para sempre. Foi o que aconteceu quando algum “acordo”, não sei qual, decretou que os acentos lembrados acima tinham sido banidos. “Caramba!”, foi minha primeira reação. “Agora que já estava habituado?”. Senti-me traído. Mas aos poucos fui-me adaptando à nova grafia e tudo deu certo. Também podia dizer que tudo deu errado: continuei a achar que ortografia não era tema que merecesse maior atenção.
Adquirir novos hábitos (ortográficos) não é difícil. Difícil é aceitar, como tem acontecido ultimamente, que mal nos habituamos, pronto!, não vale mais nada. Quase não deu tempo de transformar em hábito a novidade, e já vai ser preciso acostumar-se a outra, que vem por aí. Mas ortografia é assim mesmo, e não há muito que fazer, a não ser habituar-se. E não ter preguiça de consultar o dicionário, mas um dicionário atualizado. Se o caso for ortografia, esqueça o Caldas Aulete que você folheava na infância, e guarda até hoje, como relíquia preciosa. Os dicionários, ah, os dicionários…
Manuel Bandeira queixava-se de ser obrigado a parar, para ir verificar num deles “o cunho vernáculo de um vocábulo”.[1] Era o que ele fazia, e continuou a fazer, mesmo depois de ter-se queixado. A diferença é sutil e Bandeira estava certo: não é preciso parar. Deixe o fluxo correr solto, mas, em seguida, não fique muito entusiasmado, desconfie e… consulte o dicionário. Não há poeta que não o faça, confesse-o ou não. Todo poeta sabe que é impossível guardar toda a língua portuguesa, ou qualquer outra, na memória, e tê-la ali, na ponta dos dedos, no momento necessário.
A exceção é escrever “em transe”, indo buscar no Além ou nos subterrâneos do Inconsciente, o que vai sendo anotado no papel, já pronto e definitivo, nenhuma palavra a mais nem a menos. Mas são poucos os poetas capazes disso. Quantas e quais palavras são necessárias para que se venha a escrever um poema? Os que o fazem “em transe” não se preocupam com isso; os demais nunca sabem. Por outro lado, não se trata apenas de escolher as palavras. Escrever um poema demanda outros recursos (linguísticos), para além da seleção de uns vocábulos. Seria útil, no caso, a implantação de uma rede de desmanche, oficinas especializadas em desmontar livros velhos de poesia, separando e armazenando as partes ainda aproveitáveis (sempre há alguma), a serem reutilizadas em livros novos. Êmbolos, polias, bielas, filtros, juntas, correias de transmissão… É um não acabar de engrenagens sem as quais as palavras são só peças inertes, entregues à própria sorte. Como poesia não é biodegradável, demora séculos para ser absorvida pelo ecossistema, as vantagens de um desmanche poético são muitas: não seria um comércio clandestino, seria uma iniciativa ecologicamente correta e garantiria, embora por pouco tempo, um mínimo de qualidade à poesia perpetrada pelos neófitos. Fantasia desarvorada? Concordo. Mas fique aí, só para constar. Voltemos ao ponto de partida.
Tendo começado por confessar que nunca dei muita importância à ortografia, convém explicar por que resolvi fazê-lo, agora. É simples. Como sempre lidei com a matéria na prática, isto é, com base na intuição e não no estudo, mais de uma vez pensei em pôr no papel o que penso a respeito. Mas isso nunca chegou a acontecer, “se quedó en el tintero”, como dizia meu velho professor de espanhol. Talvez tenha faltado, sempre, um bom pretexto, que o acaso acabou por me oferecer.
Como tem ocorrido com certa frequência, dia desses eu me entretinha, sem compromisso, com as infindáveis andanças de Bernardo Soares, o ajudante de guarda-livros criado por Fernando Pessoa (de certo para rivalizar com o heterônimo mais famoso, o que guarda rebanhos), quando aconteceu deter-me numa frase, uma só, que passou a piscar, insistente, qual luminoso de beira de estrada, no meio da noite deserta: “A ortografia também é gente”. Tomei-a de imediato como epígrafe deste capítulo, embora não seja capaz de atinar com seu sentido. É que, da minha parte, foi só um devaneio, que logo passou, mas o luminoso continuou a piscar. Havia algo ali que podia/devia ser tomado a sério, mas levá-lo a termo estava (está) fora do meu alcance. Ficou apenas o forte sopro de humor, finíssimo, cortante, que a frase contém.
Antes que o devaneio passasse, o acaso (mas não seria o mesmo: uma coisa não tem que ver com a outra) levou-me a tomar conhecimento da verdadeira cruzada em que o poeta brasileiro Glauco Mattoso vem-se empenhando, na tentativa de nos convencer a adotar a sua “orthographia etymologica”. Fosse outro, seria só mais uma extravagância. Mas tratando-se de um poeta maior, a quem aprendi a admirar desde os tempos do “Jornal Dobrábil” (na ortografia então vigente), pensei: vai ver, ortografia merece alguma atenção. Foi quando a frase de Bernardo Soares intrometeu-se nesse segundo devaneio. Incapacitado de analisar a contento qualquer dos dois, e menos ainda de aproximá-los, concluí que seriam avisos, mais ou menos aleatórios. Talvez esteja na hora de reconhecer: a ortografia, de fato, merece alguma atenção.
Ato contínuo, decidi atender aos avisos, a fim de pôr em ordem o que penso – não a respeito de ortografia, em si, menos ainda de etimologia (temas para especialistas), mas das relações entre a maneira correta de grafar as palavras e a poesia. Era o pretexto que faltava. Julguei que seria uma boa oportunidade para ordenar, não as ideias (nesse terreno, continuo jejuno delas), mas umas intuições.
Foi o de que necessitei para me certificar de que a ortografia jamais representou qualquer ameaça à sobrevivência da poesia. Ambas convivem, e até muito bem, eu diria, qualquer que seja o acordo ortográfico da hora. E ainda pude verificar (embora não o planejasse) que, mesmo considerada a partir desse ângulo tão modesto, o de suas relações com a ortografia, a poesia enfrenta, sim, e cada vez mais, sérias ameaças. Enfim, não chega a ser um manifesto em defesa da poesia, mas é quase.
Vamos ao primeiro obstáculo, a definição usual: ortografia é a maneira “correta” de grafar as palavras. Por que “correta” entre aspas? Porque não há lógica ou lei, natural ou científica, estável, que garanta a “correção” ou a “incorreção”, em si, dessa ou daquela maneira de escrever. Tirante as obviedades, que nesse terreno são muitas, tudo é questionável, flutuante ou até mesmo arbitrário: depende do “acordo” ou da convenção em vigor. Não surpreende, pois, que regras e normas variem ao longo do tempo: o “correto” de ontem pode vir a ser o “incorreto” de hoje, ou vice-versa. A ortografia sempre esteve à mercê de uma minoria, empenhada em conseguir que sua ideia particular se imponha a todos, não por consenso, mas por decreto, por vezes subordinado a pesadas interferências políticas ou econômicas, como parece ser o caso da tentativa de unificação ortográfica ora em curso. Mas não consta que algum poeta tenha sido jamais convocado a participar, como poeta, não como gramático, da comissão responsável por esse ou aquele acordo. Mas a isso (o que o poeta teria a dizer a respeito?) chegaremos mais adiante. Ainda temos alguns obstáculos a superar.
A ortografia diz respeito a um só aspecto do idioma, sua forma escrita, não tendo nada a legislar no que respeita, por exemplo, à pronúncia. É por isso que, entra reforma, sai reforma, entra acordo, sai acordo, e os usuários continuam a pronunciar as palavras como faziam antes. Só os desavisados acham que devem passar a pronunciar “sequestro” e “aguentar” (sem o “u”), porque o atual acordo proíbe as grafias “seqüestro” e “agüentar”.
Com isso já se coloca uma questão capital: a forma escrita serve-se de um conjunto de símbolos, as letras, conhecido como “alfabeto” ou “abecedário”, que por sua vez também não passa de convenção, não obstante vigore, há séculos, para muitos idiomas. Outra vez: qual é a lógica, ou a lei natural ou cientifica, que justifica a sequência universal que vai de a a z? Por que o “n” e o “g” precisam vir logo depois, respectivamente, do “m” e do “f”, e não em outro lugar qualquer? Por que não podemos começar pelo “z” (ou pelos simpáticos “k”, “w” ou “y”, recentemente admitidos) e ir saltando pelas demais letras, na ordem que bem entendermos? (Rebeldia gratuita, não é mesmo? Excentricidade de poeta…) A resposta é uma redundância: porque estamos habituados a isso, desde tempos imemoriais. Tal convenção tem alguma utilidade? Parece que sim. Se nessa área não houver assentimento unânime, nunca saberemos, diante dessa ou daquela palavra, se estamos lidando com as mesmas palavras, do mesmo idioma, tanto para quem as (orto)grafa como para quem as lê. Se não for assim, a anarquia se alastra e a língua deixa de servir como veículo de comunicação entre seus usuários. (E o poeta com isso? Bem, adiante veremos.)
Quando se trata de “alfabetizar”, isto é, ensinar as pessoas a ler e a escrever, e já que nenhuma lógica justifica a ordem alfabética, que fazer senão memorizar: a-b-c-d e assim por diante? Mas saber de cor o abecedário, na ordem “certa”, não é saber ler e escrever, é só o primeiro passo, a aquisição das “primeiras letras”, como se diz, algo ainda distante de saber ler e escrever. O nome que damos a isso, “alfabetizar”, embora não seja o único culpado, é responsável por boa parte da confusão. Talvez por isso os doutos de hoje prefiram falar em “letramento”, nome que pode conduzir a outros mal-entendidos, mas, com boa vontade, aceitemos que seja mais adequado. No entanto, nossas crianças, agora “letradas” (é assim que se diz, imagino), continuam a ler e a escrever tão bem ou tão mal quanto as outrora apenas “alfabetizadas”.
Outra questão, decorrente da anterior, é a da relação entre as letras e os sons, ou entre grafia e fonética. O abecedário é associado não aos sons, mas aos nomes das letras que o compõem. O nome da letra “j”, por exemplo, é formado por quatro sons (j-o-t-a), só o primeiro dos quais lembra o correspondente à letra. Minha amiga Yara, que tem todo o direito de grafar seu nome com “y”, ficaria desolada se este, modesto dissílabo, soasse na voz das pessoas como imponente polissílabo: Ipsilonara. Creio que todos, do leigo absoluto ao douto erudito, ficaríamos felizes se a relação entre grafia e fonética fosse unívoca, isto é, se a cada letra correspondesse um único som, e se cada som fosse representado por uma única letra. Não é o que acontece. Os exemplos são inumeráveis, mas vamos lá. (O caso exige alguma paciência.)
Que som corresponde à letra “c”? Depende. Se em seguida tivermos um “a”, um “o” ou um “u”, o som é “k” (curioso, cocada, peteca), aliás, o mesmo som que representamos por “qu” (querer, quizumba). Mas, se for seguido de um “e” ou um “i”, o som já será “ss” (tecer, cinema), e esse mesmo som, além de ocorrer toda vez que grafamos “ss” (passado, assíduo), também pode ser representado pelo “ç” (caça), ou por um só “s”, em começo ou final de palavra (saúde, gás), ou seguido de um “t” (basta). Mas não assim se for seguido de um “m”, pois aí já soa como “z” (o “z” de zarolho, digamos). Exemplo: fantasma. “Exemplo”? Sim, claro: tal como o “s” entre vogais (atrasado), o “x” também pode soar como “z” (exame), mas soa como “ch”, em início de palavra (xarope) e entre vogais (bruxaria), ou como “ks”, em final de palavra (tórax). E ficamos sem saber qual é a exceção, qual é a regra. Por isso muitos hesitam diante de palavras como “tóxico”: é “tóksico” ou “tóchico”? E outros (vítimas da falácia fonética) acham que o plural de “degrau” é “degrais”. Nada mais justo. O plural de “sinal”, “fatal”, “normal” etc. não é “sinais”, “fatais”, “normais”? Em final de palavra, “al” e “au” não representam o mesmo som? (Sim, sabemos que na prosódia lusitana “l” é sempre consoante, de modo que a terminação “al” não é um ditongo, assim como não o é para os gaúchos mais tradicionalistas. Mas isso é exceção, não é mesmo? Fiquemos, pois, com a maioria dos falantes brasileiros.) Por que o plural de “degrau” há de ser “degraus”? Simples: o plural das palavras não se forma a partir dos sons, mas da grafia. E com isso quase abandonávamos o reino da ortografia, para adentrar o da prosódia. Pois é. Se a grafia já fosse fonética, que necessidade haveria de aprendermos “prosódia”, ou seja, a maneira correta (outra vez) de pronunciar as palavras?
Enfim, para rematar este quesito, leia em voz alta, para alguém a seu lado, as palavras “cesta” e “sexta” ou “viajem” e “viagem”. Depois pergunte a ele ou ela se foi capaz de distinguir uma da outra. E melhor parar por aqui. Se tentássemos cobrir todos os exemplos possíveis do descompasso entre grafia e pronúncia, cem páginas como esta não seriam suficientes. Nem necessárias. O argumento está claro: os sons que entram na constituição dos vocábulos da língua são em número bem maior que as 26 letras de que nosso abecedário, hoje, dispõe. “Letras”, convém frisar, são apenas símbolos convencionais, e não há mal nisso. É só parar com a promessa ou a falácia segundo a qual o alfabeto é fonético (a cada letra corresponderia um único som, e vice-versa): sabemos que não é. E aceitar que é tudo convenção, acordo de circunstância, embora esta dure há séculos, pela (boa) razão já exposta: a comunicação por meio da língua será o caos, se cada usuário grafar as palavras como bem entenda. (É o caso do poeta? Outra vez: chegaremos lá.)
Uma questão de método
Abecedário, ortografia, a maneira como damos representação gráfica às palavras: tudo símbolos, tudo convenção, mais ou menos arbitrária, que precisa contar com a anuência (ou a subserviência?) de todos. Mas os especialistas agem como se houvesse aí leis certas e infalíveis que, de tempos em tempos, algum decreto despeja na cabeça, já de si um pouco perdida, dos usuários. Por que especialistas agem assim? Porque ainda não se libertaram nem do cartesianismo, que rege nossas primeiras gramáticas, nem do cientificismo a que nos fomos habituando, desde a metade do século xix. Especialistas insistem em pensar na ortografia com base na suposta existência de leis gerais, que permitem lidar metodicamente com o assunto, para que daí resulte um sistema coeso e uniforme. Sistema? Pois então, dizem alguns, devemos escrever como se fala. Mas o argumento a propósito da relação entre as letras e os sons demonstra a impossibilidade de uma ortografia fonética, a não ser que adotássemos, em lugar do abecedário, o conjunto de sinais da AFI (Associação Fonética Internacional),[2] aqueles sinais cabalísticos, que só técnicos e especialistas utilizam, quando pretendem dar, à pronúncia, representação gráfica fidedigna. Ora, se nosso antigo abecedário já fosse “fonético”, que necessidade haveria de se recorrer a esse intrincado conjunto de sinais, aliás também conhecido, não por acaso, como “alfabeto fonético”? De novo, “alfabeto”? A confusão se multiplica.
Então, dizem outros, adotemos uma ortografia etimológica, de acordo com a origem de cada palavra. Mas que fazer com a quantidade de vocábulos a respeito de cuja origem não temos certeza? (São aquelas formas conjecturais, antecedidas de um asterisco nos tratados que lidam com a matéria.) “Étimo” não é forma escrita, documentada? Que fazer, então, com as palavras que se originam de línguas ágrafas, sem representação gráfica, como as indígenas e as africanas? Claro, usamos a imaginação e inventamos os “étimos” que nos pareçam mais convenientes. Os fatos não se enquadram no método? Pior para os fatos… Conclusão: ortografia fonética ou etimológica? Se insistirmos em pensar na língua como “sistema”, será preciso centrar a atenção em outro foco, que não a fonética ou a etimologia.
“Regras gerais”, como as postuladas pelos gramáticos, equivalem a parâmetros, aplicáveis a todos os casos. Acontece que só alguns, quase sempre os mais simples e óbvios, se ajustam. A desculpa é inevitável: “toda regra tem exceção”. Mas que fazer com as da nossa ortografia, cujas exceções são em número tão avantajado e, sobretudo, incidem sobre casos bem mais complexos do que os cobertos pelas regras? Então, quer dizer que, em matéria de ortografia, só podemos pensar na base do “cada caso é um caso”? Bem, não exageremos. Nem todo caso é um caso, mas muitos são, e é preciso lidar com isso, para além do comodismo que é expor a regra em duas linhas, e a seguir acrescentar outras dez, com um copioso rol de exceções. A chave seria: flexibilidade. Mas esta não se coaduna com o rigor do método que a maioria dos “donos” do idioma insiste em pôr em prática.
A “solução” tem sido a mesma adotada para o ensino das primeiras letras: induzir as crianças a decorar as regras, para depois aplicá-las, metódica e sistematicamente, a cada caso, quando se dispuserem a escrever. As exceções? Ora, não demos tanta importância a isso. Se dermos, o “método” cai por terra e o “sistema” se esfarela. O pressuposto é que decorar o abecedário, assim como as regras gramaticais, tornaria a pessoa apta a ler e escrever. Alguém acredita nisso?
A língua é um animal vivo, rebelde, em constante mutação, e isso todo especialista sabe, mas finge ignorar, tentando submetê-la a leis gerais e infalíveis, portanto imutáveis. Bem, imutáveis só até o próximo acordo. Quem enfrenta para valer a rebeldia e a mutabilidade da língua, esse sim, é o usuário comum, seja tentando valer-se dos ensinamentos dos especialistas, seja mandando às favas toda e qualquer lei. Quem também enfrenta, a seu modo, é o poeta, que conhece bem, e pratica, a lição de Carlos Drummond de Andrade: “Lutar com palavras / é a luta mais vã, / entanto lutamos / mal rompe a manhã”.[3] Com isso, já estamos mais próximos do ângulo de visão do poeta.
Drummond não parece estar preocupado com ortografia. Por quê? Porque todo poeta sabe que a maneira de grafar as palavras está para saber escrever, assim como a linguagem está para o pensamento, na sibilina visão do filósofo. A linguagem, ensina Wittgenstein, em relação ao pensamento, ou ao verdadeiro ato de pensar, é só uma escada, imprescindível, é verdade, razão pela qual precisa ser galgada criteriosamente, degrau por degrau, mas em algum momento deve ser jogada fora.[4] Insistir nela é marcar passo e abdicar de pensar, tomando o meio como fim. Não é o que acontece no tocante à relação entre a ortografia e a verdadeira alfabetização?
Mas qual é o gramático, ou o professor de primeiras letras, disposto a jogar fora a escada, o conjunto de regras que ele tende a tomar como justificativa essencial da atividade que exerce? Mesmo sabendo, ou desconfiando, que assim não se alfabetiza ninguém, que assim ninguém aprende a ler e escrever, todos hesitarão em seguir o conselho do filósofo. Por quê? Porque, livres das regras, do “método” e do “sistema”, muitos não saberiam o que fazer. Mas o poeta sabe. E nunca fez outra coisa.
Lutar com palavras
Tudo seria mais simples, e a ninguém ocorreria cogitar de um tema como “Poesia e ortografia”, se a ferramenta primordial do poeta, a língua, fosse do seu uso exclusivo, e não a mesma à disposição de todo usuário, alfabetizado ou não. Aliás, não é preciso saber ler e escrever para falar, ou seja, para utilizar a mesma língua de que letrados e poetas se servem, no seu dia a dia. A propósito, aqueles raros dias em que o poeta se sente suficientemente “inspirado” para escrever um poema já seria outra história, mas a ferramenta é a mesma. Com efeito, seria tudo mais simples se houvesse uma língua para o uso comum e outra só para a poesia. Miragem de poeta, claro… Mas nem é preciso fantasiar para saber que, se isso se concretizasse, a poesia não seria mais o que tem sido, há séculos. E a língua também não. Puro nonsense, reconheço, mas talvez ajude a compreender o que se passa.
O fato de a ferramenta ser a mesma nunca chegou a induzir ninguém a sair por aí, proclamando: “Ah, eu sou poeta, ou posso vir a sê-lo, quando quiser. A ferramenta já tenho”. Só alguns o fazem. A maioria parece deter-se no secular consenso segundo o qual não basta ser alfabetizado para escrever poesia. Não se trata da ferramenta, mas do uso que se faz dela. No dia a dia, prevalece o uso funcional, utilitarista: a língua comum permite que entremos em contato uns com os outros, para intercambiar um pouco de tudo, desde trivialidades descartáveis até assuntos carregados de valor ou importância mais duradouros. Já quando se trata de poesia, o uso é outro: não-utilitarista, não-imediatista, não-funcional, não para simplesmente comunicar esta ou aquela eventualidade. A língua permite ao poeta expressar o que, em princípio, só ele enxerga: o inusitado, o surpreendente, a estranheza que se esconde nos interstícios do cotidiano. E nos interstícios da língua.
Para o uso corriqueiro, graças à insistência dos gramáticos e seus acordos, a língua é só um veículo transparente, ao qual recorremos como autômatos, sem lhe atribuir importância em si. Para o uso poético, a língua é um tecido poroso, maleável, e é preciso explorá-lo como tal. Só assim será possível perceber que o que temos a comunicar, das trivialidades aos assuntos mais sérios, não tem existência autônoma, aí fora, mas depende sempre do modo como o fazemos, isto é, das palavras que empregamos. Por isso Drummond recomenda lutar com elas. Conselho de poeta para poeta? Sem dúvida. Mas, também, de cidadão para cidadão. Lutar com palavras é uma necessidade, tanto para o homem comum quanto para o poeta, em especial naqueles momentos de perplexidade (“inspiração”?) diante do generalizado desconcerto do mundo – que está aí mesmo, debaixo dos olhos de todos, mas só o poeta é capaz de enxergar.
Muito antes de Drummond, outro poeta, Horácio, já ensinava, referindo-se às palavras: “Inutilia truncat” (corta o que for inútil).[5] Outra vez: conselho de poeta para poeta e, concomitantemente, de cidadão para cidadão. Eliminar o que for supérfluo, ficar só com o essencial, ao falar ou ao escrever, traz notáveis benefícios, tanto ao cidadão comum quanto ao poeta. Para isso, para saber o que é essencial, e expressá-lo, é preciso “lutar com palavras”. Mas, no dia a dia, o homem comum já se vê empenhado em tantas e tão prementes lutas, que essa outra – com as palavras – lhe parecerá luxo supérfluo, ao qual só o poeta se dedica. O poeta e o gramático. Então, voltamos ao ponto de partida?
Pode ser que sim. Em todo caso, vejamos. A língua evolui, embora nem sempre para melhor, como se acreditava no século xix, assim como a poesia, mas esta jamais a reboque daquela. Não consta que a eliminação do trema, de umas consoantes mudas e de alguns acentos, ou a confusa “regra” ora adotada para o uso do hífen nas palavras compostas, tenham comovido este ou aquele poeta, estimulando-o a propor uma nova poesia. O uso poético da língua é sempre inventivo, criativo, original, mas nada se inventa ou se cria quando somos obrigados a grafar “arguir” em vez de “argüir”, ou quando “para” (preposição) e “para” (verbo) passam a ser a mesma coisa… graficamente falando.
Com efeito, língua e poesia se transformam, esta jamais a reboque daquela… A recíproca, porém, não é verdadeira. Algo das mudanças introduzidas na língua, ortografia à parte, pode ser creditado à inventividade de seus poetas. Quanto da consolidação da língua portuguesa, que então engatinhava, à procura de um “padrão” literário, se deve à original performance de Camões, em Os lusíadas? Quantas expressões, hoje correntes, ao alcance de todos, foram na origem invenção de poetas como Pessoa ou Drummond? Entregue à guarda exclusiva dos usuários comuns, guiados pelos gramáticos, a língua seria, há muito, organismo esclerosado, reduzido a umas poucas fórmulas mecânicas. Eis a razão pela qual é a mesma língua, para o uso corriqueiro e para a poesia. A necessidade de inovar, para que a língua continue a ser organismo vivo, é um dos fatores que move o poeta. Inovar para quê, se não para que suas “excentricidades” venham a fazer parte do patrimônio comum, colaborando para que a comunicação entre humanos se realize? Se houvesse uma língua para a poesia e outra para o uso cotidiano, o poeta não teria por que inovar e passaria a falar sozinho. Ou aos demais poetas que por acaso julgassem falar a mesma língua. Num caso e noutro, a “evolução” é um processo cadenciado, extremamente moroso e, via de regra, imperceptível. O poeta, ao contrário do homem comum, lida com a consciência dos fatos, não com sua percepção imediata. Daí ser necessário lutar com palavras, o que exige consciência atenta, foco, reflexão continuada; portanto, largo tempo de maturação.
Acontece que, indiferente à morosidade da língua e da poesia, a realidade à nossa volta vem acelerando cada vez mais seu ritmo de mudança: industrialização crescente, progresso ilimitado das ciências e da tecnologia, urbanização desenfreada, superpopulação das grandes cidades, proliferação dos apelos que induzem o indivíduo a aceitar como inevitável o fato de a existência humana ter-se transformado em frenética sucessão de comprar e vender, exibir e consumir. A consciência que o homem pudesse ter do que se passa em redor é substituída pela percepção simultânea dos infinitos estímulos que enfrenta no dia a dia… para recomeçar do zero, no dia seguinte.[6] A “era da informação” que vivemos, todos plugados a qualquer coisa que ninguém saberia dizer o que seja, é o coroamento do processo.
A língua – a dos gramáticos e do usuário comum – faz o que pode, incorporando rapidamente as novidades lexicais (estrangeirismos, neologismos, tecnicismos, modismos) que proliferam no bojo das incontáveis “especialidades” que se multiplicam, a todo instante. Mas é só esforço inútil, para manter a ilusão de que a língua possa ou deva dar conta disso. A comunicação verbal plena (palavras bem escolhidas, frases com sentido e propósito, explanações bem arrazoadas) é cada vez mais rara, vestígio de uma era extinta. A quem isso faria falta? Ao poeta, com certeza. Mas, com mais certeza ainda, ao homem comum, agora reduzido à triste condição de feixe de instintos, mero animal (racional?) que produz e consome. E vê ser destruído o que lhe resta de humanidade, satisfeito e feliz.
E os poetas? Alguns sorriem, não de satisfação e felicidade, mas porque agora podem bater no peito: é o que eu dizia, é o que eu vinha dizendo há tempos, e ninguém me deu ouvidos. A decadência da civilização é um dos temas fortes da poesia moderna, quer dizer, a partir do Século das Luzes, assim chamado; a partir da grande libertação que foi a vitória do Racionalismo contra as trevas do mundo antigo. E, logo em seguida, a partir da “descoberta” do Inconsciente e da Irracionalidade, erigidos em vetores essenciais da condição humana. É um pouco disso o que temos em William Blake, Hölderlin, Novalis, depois em Baudelaire, Rimbaud, Gottfried Benn e todos os grandes poetas dos séculos xix e xx, incluindo os futuristas, os surrealistas, a vanguarda iconoclasta, como Ezra Pound, na esteira de Mallarmé, ou os “conservadores”, como Eliot, na senda do simbolismo e da poesia metafísica do século xvii. Vem de longe o brado de revolta dos poetas, contra a desumanização que se alastra, contra a perda de consciência do valor das palavras e da própria vida humana.
Paralelamente, os poetas vêm tentando sintonizar com as mudanças em redor, tornando mais ágil, mais concisa, mais nervosa a sua fala, quer dizer, a sua escrita – “palavra em liberdade”, como dizia Marinetti, agora sintonizada com a grande urbe, a “aldeia global”. É o “inutilia truncat”, recomendado por Horácio, levado ao limite extremo, para além do qual não haverá mais comunicação, mas só ruído, estilhaços verbais, balbucio hermético, o silêncio, o vazio.
De outro lado, o ritmo frenético do nosso tempo acabou por gerar, por volta da metade do século xx, um avanço radical, a vanguarda da vanguarda, isto é, uma nova poesia, que incorporasse, à expressão verbal, outros apelos – o visual, o sonoro, o táctil, o gestual – que passam a dividir, de forma constelada, o espaço até então soberanamente ocupado pelas palavras. Surge então uma nova linguagem, naquela altura dita “verbivocovisual”, que se propõe realizar o sonho mirífico de uma “língua” para uso exclusivo da poesia, premeditadamente divorciada da língua comum. Para isso, era preciso abrir mão da consciência comunicativa, em favor da percepção instantânea dos sentidos. Os excessos e exageros dessa tendência, não obstante o caráter persuasivo da teoria que a enforma, conduziram a uma espécie de solipsismo, de forte pendor autista: a poesia trancada em si mesma, incomunicável. Bem por isso, a maioria dos poetas em atividade nas últimas décadas (na contramão, como sempre) tem insistido na antiga espécie de poesia, então considerada “obsoleta”, feita de palavras e de consciência, ainda empenhada na utopia de resistir à desumanização crescente.
A liberdade do poeta
E o modesto tema de que partimos, a ortografia, como fica? Apesar das altas paragens a que fomos conduzidos, não o perdemos de vista. Mas foi necessário esse largo excurso para que pudéssemos retomá-lo. A ortografia, claro está, não teria nada a fazer na nova linguagem proposta pela vanguarda mais radical. Caso esta tivesse prevalecido, teria sido reduzida à tipografia, como ocorreu em mais de um momento: letras soltas, no novo espaço a ser partilhado com os sons, as imagens, os gestos etc. (O comércio legal do desmanche poético, sugerido de início, teria sido extinto. Ou passaria para a clandestinidade.) E há uma lógica de rigor que o justifica: se a poesia pretende inovar, para além da língua comum, é preciso romper com todos os obstáculos que cerceiam a liberdade e o engenho do poeta. A ortografia é o primeiro e mais banal desses obstáculos e a vanguarda da vanguarda supera-o com notável simplicidade: se desistirmos das palavras, não teremos de nos preocupar com a forma como são grafadas. Decretemos, pois, o “fim do verso”. Com isso nos livramos, também, de obsolescências como a conjugação dos verbos, as flexões, a regência, as regras de concordância, a construção das frases, a sintaxe. A gramática, em suma.
O pressuposto – equívoco de parvenu – é que toda a poesia anterior à eclosão da vanguarda radical fosse dependente das regras gramaticais e não fizesse senão repetir o uso burocratizado da língua. Ainda que isto se aplique a muitos poetas (os falsos, que sempre houve), não se aplica aos grandes, como os mencionados até aqui. Estes sempre deram à ortografia, por exemplo, a importância devida, que é quase nenhuma: é só aquela escada que, segundo Wittgenstein, deve ser jogada fora. Mas só depois de ter sido galgada, degrau por degrau. Poesia genuína é sempre insubmissão, rebeldia, transgressão. Mas há que distinguir: de um lado, temos a transgressão com propósito, praticada pelo poeta que conhece bem as “normas” a serem transgredidas, a serviço da comunicação de uma nova consciência das coisas; de outro, a transgressão gratuita, praticada pelo espertalhão, que capta no ar a nova ordem (transgrida ou pereça!), e vai transgredindo indiscriminadamente, com escasso conhecimento da matéria com que lida, a língua. E conhecimento mais escasso ainda da lição dos que o antecederam. Uns transgridem porque sabem o que fazem; outros, porque não sabem.[7]
O filósofo diria: se ignorar a escada, você jamais chegará perto do pensamento, ficará sempre aquém da magnífica poesia que sua desmedida ambição almeja realizar. Jogar fora a escada, rebelar-se contra todas as normas é, de fato, necessário… desde que a “nova” língua proposta pelo poeta continue a ser, de algum modo, comunicável também ao leitor comum, a despeito das dificuldades e obstáculos com que este se depare.
A aventura da modernidade põe a nu o que já se sabe, há tempos. Poesia não é, como acreditam muitos, aquela entidade incorpórea, coisa da “alma” e da “emoção”, feita de sonhos, visões e sentimentos vagos, pairando no ar, inacessíveis. Poesia é linguagem, materialidade tangível, engendrado verbal construído pelo poeta. Este, para lidar com sua matéria, só dispõe das palavras, e a única maneira de ser bem sucedido é lutar com elas. Para isso, é imprescindível o recurso à racionalidade. Se souber fazê-lo com proficiência, o resultado será a poesia que almeja. Se superestimar o polo da emoção, não chegará perto; se privilegiar o da razão, fará outra coisa.
Mallarmé ensinou a seu amigo Degas: “Poesia não se faz com ideias, mas com palavras”. Apesar da boa intenção, isso não ajudou o pintor a converter suas ideias em poemas. Degas logo o esqueceu e continuou a fazer o que sabia: pintar e esculpir. Mas o dito espirituoso do amigo poeta, com sua ênfase retórica na dimensão até aí negligenciada (a forma, o modo de dizer), teve longa vida. A ênfase excessiva ou exclusiva nesse aspecto fez que, daí por diante, os candidatos a poeta, sequiosos da fácil “novidade” que aí se anunciava, passassem a se confundir com os gramáticos, deslumbrados com a forma pela forma, marcando passo nos degraus da escada, que mal começou a ser galgada. Poesia se faz com palavras, sem dúvida, mas estas devem ser, sempre, portadoras de ideias. Ortografia? Talvez seja o que menos conta. Mas voltemos, para valer, à maneira “correta” de grafar as palavras. Um ou outro exemplo será suficiente para ilustrá-lo, e para equacionar a questão, afinal, elementar.
Mário de Andrade, talvez estimulado pela sugestão de Manuel Bandeira, que dizia estar “farto do lirismo comedido” e queria deixar de “macaquear a sintaxe lusíada”,[8] insistiu em convencer-nos de que era preciso escrever “brasileiro”. Estudioso de folclore e de etnografia, deixou larga contribuição nessas áreas, incluindo um estudo inacabado, A gramatiquinha da fala brasileira (que ele próprio considerava “não obra técnica, porém obra de ficção” [9]), e a idealização de um Congresso da Língua Nacional Cantada, realizado em São Paulo (1937). O bom propósito se reflete em sua poesia, para a qual adotou, embora de forma não sistemática, uma ortografia peculiar: em vez de “se” (conjunção), “si”; “milhor” em vez de “melhor”; “siquer” e não “sequer”, “quási” e não “quase”, “mãi” e não “mãe”, e assim por diante. Podemos ir direto ao ponto.
Quando lemos, como ele grafou, “A manhã roda macia a meu lado / entre arranha-céus de luz / construídos pelo milhor engenheiro da Terra”, ou “É como si a madrugada andasse na minha frente”,[10] podemos estranhar aquele “milhor” e este “si”, mas isso é imediatamente superado e logo atinamos com o que os versos querem dizer. Mas se lermos “melhor” e “se”, em alguma edição que atualize e uniformize a ortografia, leremos… a mesma coisa. A ortografia peculiar nada acrescenta ao que os versos dizem, perfeitamente, na ortografia corrente, salvo a momentânea e descartável estranheza. Alguém diria, talvez o próprio Mário dissesse: se pronunciamos “si” e “milhor”, então assim é que devemos escrever. Bem lembrado, sem dúvida, mas isso só seria razoável se o procedimento se estendesse, de maneira uniforme, a todos os vocábulos por ele empregados. Se levasse a ideia a tal extremo, Mário teria desistido do abecedário, para adotar o “alfabeto fonético” da Associação Internacional. Só assim seria possível escrever “brasileiro”, como ele queria. E não haveria leitor que o acompanhasse, a não ser meia dúzia de eruditos, para os quais a poesia, em princípio, não diz nada.
Escrever “brasileiro”, como defendia Mário de Andrade, tem que ver com regionalismos, coloquialidade, ductilidade da frase, formas de tratamento, sintaxe flexível e ritmos cadenciados. Daí o interesse do poeta pela língua falada e cantada: o ouvido não tem dificuldade em identificar, logo às primeiras palavras, qualquer das várias modalidades da fala brasileira. Mas, diante da forma escrita, o caso é outro: a maneira de grafar as palavras (quantas vezes será necessário insistir neste ponto?) não tem como ser “fiel” aos sons que as constituem e não determina o modo como o fazemos. Nós pronunciaremos à brasileira (quanto a isso, Mário podia ficar tranquilo) e os portugueses pronunciarão à maneira deles, qualquer que seja a ortografia adotada, cá e lá. E todos terão a ganhar se esta for atualizada e uniforme.
Outro exemplo, mais controvertido, é dado por Fernando Pessoa, que optou, em Mensagem (1934), único livro em língua portuguesa que publicou em vida, por uma ortografia sui generis: “sphyngico” e não “esfíngico”, “mytho” em vez de “mito”, ou “instincto”, “addiado”, “prohibida”, em lugar de “instinto”, “adiado”, “proibida”. Embora chegasse a afirmar, em texto à parte: “O autor deste livro não aceita como boa a ortografia oficial; com ela, porém, temporariamente se conforma, para conveniência imediata, por igual, do tipógrafo e do leitor”,[11] o poeta houve por bem não cumpri-lo, dando preferência, não se sabe se de última hora (como de última hora foi – o livro já em provas – a mudança do título, de Portugal para Mensagem), à sua grafia peculiar. A possível razão quem a dá, já sabemos, é o heterônimo Bernardo Soares: “A ortografia também é gente”.[12]
A intenção, óbvia, é reforçar a aura mística, heráldico-nobiliárquica, aristocrática, que constitui um dos ingredientes fortes da Mensagem (frise-se: um dos). “Reforçar”? Trata-se, então, de ornamento dispensável, redundante, com o qual ou sem o qual essa aura chegaria à consciência do leitor atento. David Mourão Ferreira foi o primeiro a se dar conta do fato: “Pela primeira vez se publica uma edição de Mensagem,[13] especialmente dedicada ao povo e à juventude de Portugal. Para isso, atualizou-se-lhe a ortografia [o grifo é meu], de modo que não se erguessem, entre a obra e o leitor, supérfluos e irritantes obstáculos”. Apesar da ressalva (uma edição “dedicada ao povo e à juventude”), ou justamente por isso, a maioria das edições posteriores à certeira observação reproduz a grafia adotada pelo poeta – vestígio residual do amaneirado simbolista ou decadentista, de interesse exclusivo dos eruditos.
O episódio revela que, do lado dos editores, a inércia predomina e, do lado do poeta, a ortografia nunca teve senão a importância devida, mera convenção de circunstância, à qual (Pessoa chegou a admiti-lo) é preciso conformar-se, caso contrário, o leitor enfrentará, em vão, “supérfluos e irritantes obstáculos”. Conclusão: a alta poesia de Mensagem situa-se muito além da ortografia rara, e é um equívoco supor que esteja na dependência da maneira como sejam grafadas, e dadas a ler, as palavras que a constituem.
Os exemplos poderiam multiplicar-se, em várias direções, nenhum porém chegaria perto da proeza sistemática e radical como a empreendida por Glauco Mattoso, que resolveu adotar a (ou uma?) ortografia etimológica. Além de passar a grafar, de acordo com a nova norma, seus decassílabos escrupulosamente medidos e rimados (“Azar? Não acredito! Tu não vês / que é tudo só crendice? Si acreditas / num Ente Superior, essas maldictas / noções são remactada estupidez!”[14]), Glauco chegou a organizar um formidável Diccionario Orthographico Phonetico/Etymologico, já na quinta edição (“quincta”, como ele prefere), em cujas páginas de abertura esclarece: “Um diccionario tão específico não teria utilidade apenas para seu auctor e para aquelles que prefiram escrever pela norma mais classica, mas para todos os estudiosos do idioma e de suas transformações historicas, independentemente de tendencias conservadoras, reformadoras ou restauradoras. Tracta-se, portanto, d’uma obra linguistica de interesse geral”.[15]
Parece que estamos diante da inversão dos polos assinalados por Mário de Andrade em relação à sua Gramatiquinha, que ele não considera, convém lembrar, “obra técnica, porém obra de ficção”. Mas só parece. Mário não se lembraria de chamar a atenção para o fato, se sua “ficção” gramatical não estivesse impregnada de preocupação “técnica”. O mesmo raciocínio, invertido, pode ser aplicado à proeza de Glauco Mattoso. Ele não omitiria um dos polos, o da “ficção”, pondo toda a ênfase na “técnica”, se não tivesse plena consciência do quanto de ficcional se esconde nas malhas de sua guerrilha “orthographico-etymologica”.
Se me for permitido generalizar, para que este devaneio, resultante de outros devaneios, não se prolongue indefinidamente, digamos que, considerados os exemplos possíveis (o de Mário, o de Pessoa, o de Glauco e outros mais), todos parecem confirmar o que já se sabe, quanto à substância essencial do ato poético: rebeldia, insubmissão, inconformismo, com mais ou menos discreta, mais ou menos espalhafatosa dose de humor e ironia. Necessidade de transgredir, em suma, de lutar não só com as “palavras”, como lembra Drummond, mas com toda e qualquer lei ou regra “oficial”, que cerceie a liberdade do poeta. A gramática é só uma das “leis” impostas pelo sistema, e a ortografia é talvez a mais inocente, a menos tirânica de suas “normas”. Dela é sempre possível livrar-se, bastando para isso dominá-la, a fim de submetê-la ao crivo da imaginação criadora e da inventividade: engenho e arte, como dizia Camões. Ortografia, não sei se chega a ser “gente”, mas sei que é só metáfora. Rebelar-se contra ela ou é ato gratuito, mero desconhecimento de causa, ou é rebelar-se contra outra coisa. E manifestar a revolta profunda gerada pelas tiranias em relação às quais nos resta pouco ou nada a fazer. A não ser, de vez em quando, dar atenção a “alguma poesia”, para que a língua comum continue à disposição de todos. Ou para manter aceso o sonho de liberdade.
[1] Libertinagem, in Poesia e prosa, vol. I, Rio de Janeiro, José Aguilar, 1958, p. 188.
[2] Disponível para download em www.steacher.pro.br/alfabetofonetico.pdf (25/02/2015).
[3] José, in Obra completa, Rio de Janeiro, José Aguilar, 1967, p. 126.
[4] Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, trad. bras., Editora Nacional/USP, 1968, p. 129.
[5] Horácio, Arte poética, trad. port., Lisboa, Livraria Clássica Editora, s.d., p. 120.
[6] Cf. Erich Kahler, The disintegration of form in the arts, New York, George Braziller, 1968, pp. 77-131.
[7] Cf. Carlos Felipe Moisés, “O pacto da transgressão”, in Tradição & ruptura, Vila Velha, Opção Editora, 2012, pp. 17-32.
[8] Libertinagem, ed. cit., pp. 188 e 200.
[9] Apud Elisa Guimarães, “A gramatiquinha da fala brasileira”, artigo disponível para download em seer.fclar.unesp.br/itinerários/article/viewFile/2491/2092 (25/02/2015).
[10] Mário de Andrade, Losango cáqui, in Poesias completas, São Paulo, Martins, 1974, 4ª ed., pp. 84 e 91.
[11] Cf. Fernando Pessoa, A língua portuguesa, Lisboa, Assírio & Alvim, 1997, edição organizada por Luísa Medeiros.
[12] Livro do desassossego, Campinas, Editora da Unicamp, 1974, vol. II, p. 281.
[13] Lisboa, Ática, 6ª ed., 1959.
[14] Glauco Mattoso, Raymundo Curupyra: o Caypora, São Paulo, Tordesilhas, 2012, p. 11.
[15] Disponível em escritablog (25/02/2015).
.
Carlos Felipe Moisés nasceu em São Paulo, SP, em 1942 e estreou como poeta em 1960, tendo ingressado em seguida na Universidade de São Paulo, como aluno de Letras. Mestre e doutor em Letras Clássicas e Vernáculas, tornou-se professor universitário, tendo ensinado teoria literária e literaturas de língua portuguesa na Faculdade de Filosofia de São José do Rio Preto (1966-68), na PUC de São Paulo (1967-1970), na Universidade Federal da Paraíba (1977) e na USP (1972-1992). Passou várias temporadas no Exterior – em Portugal e na França, como bolsista, e nos EUA, como escritor residente em Iowa City (1974-75), e como professor visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley (1978-1982), e na Universidade do Novo México (1986). Como poeta, recebeu vários prêmios, entre os quais o Governador do Estado de São Paulo (Carta de marear, 1966), o Gregório de Mattos e Guerra, da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Círculo imperfeito, 1978) e por duas vezes o APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte (Poemas reunidos, 1974, e Subsolo, 1989). Seu livro de poesia mais recente é Noite nula (2008), finalista do Prêmio Portugal Telecom. Como crítico, tem-se dedicado especialmente à poesia dos séculos XIX e XX, com relevantes trabalhos sobre Cesário Verde, Fernando Pessoa, o Surrealismo, Vinícius de Morais, João Cabral de Melo Neto e poetas brasileiros contemporâneos. Entre seus livros nessa área, destacam-se Poesia e realidade(1977), O poema e as máscaras (1981), O desconcerto do mundo (2001) e Poesia & utopia(2007), Tradição & ruptura: o pacto da transgressão na literatura moderna (2012). É também autor de livros infanto-juvenis, entre os quais O livro da fortuna (1992), A deusa da minha rua(1996) e Conversa com Fernando Pessoa (2006), este último distinguido com o prêmio FNLIJ, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Recentemente, estreou como contista, com a coletânea Histórias mutiladas (2010), Prêmio Governo do Estado de Minas Gerais, Melhor Livro de Ficção. Tradutor, verteu para o português, entre outros, Tudo o que é sólido desmancha no ar, de Marshall Berman (1986) e O poder do mito, de Joseph Campbell (1990). É responsável, juntamente com Richard Zenith, pela curadoria da primeira exposição a homenagear um autor português, Fernando Pessoa, no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. E-mail: carlos_moises@uol.com.br
Comentários (3 comentários)
Comente o texto











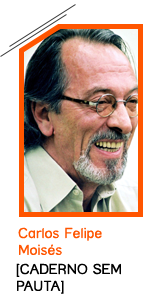


















18 junho, 2015 as 19:25
29 junho, 2015 as 15:14
1 julho, 2015 as 23:10